7 de setembro: Independência para quem? Desconstruindo a narrativa oficial
- Helbson de Avila
- 7 de set. de 2025
- 3 min de leitura

O 7 de setembro é uma data que, tradicionalmente, evoca a imagem de D. Pedro I, cavaleiro solitário e heroico, proclamando a independência do Brasil às margens do riacho do Ipiranga. Essa imagem, tão presente no imaginário nacional, é a síntese de uma narrativa oficial que privilegia o protagonismo das elites e ofusca a complexa teia de interesses e a pluralidade de sujeitos históricos que, de fato, moldaram o processo de emancipação. Longe de ser um ato heroico ou um processo coletivo de libertação, a independência de 1822 foi, em sua essência, um arranjo político meticulosamente orquestrado pelas classes dominantes para preservar seus privilégios e, sobretudo, garantir a permanência de estruturas de opressão, com destaque para a escravidão e o latifúndio.
A independência como um pacto de elites: a continuidade da opressão
A independência brasileira não representou uma ruptura radical com o sistema colonial, mas sim uma sofisticada reconfiguração que garantiu a continuidade do status quo. A historiadora Lilia Schwarcz, em sua obra Brasil: uma biografia, argumenta que "a independência foi feita para não mudar quase nada. As estruturas permaneceram, e a escravidão seguiu como base da vida social e econômica". Essa constatação é crucial: a soberania política conquistada pela Casa de Bragança não se traduziu em soberania popular, nem em liberdade para a maioria da população.
A permanência da escravidão, sistema que sustentou a economia e a estrutura social brasileira por séculos, é a prova mais contundente desse pacto. O historiador João José Reis, em sua análise sobre as rebeliões escravas, destaca que, apesar das pressões internacionais e dos levantes internos, "a escravidão permaneceu como o fundamento mais sólido da ordem imperial". Dessa forma, a independência não só falhou em emancipar a vasta população de homens e mulheres negros, escravizados e libertos, como também consolidou a subordinação desses corpos a um Estado que se autoproclamava livre enquanto negociava a escravidão.
Os silêncios da memória nacional e as lutas esquecidas
A narrativa hegemônica do 7 de setembro silencia deliberadamente as experiências de luta e resistência que questionavam o domínio português e, mais profundamente, o próprio sistema de exploração. Movimentos como a Inconfidência Baiana de 1798, protagonizada por setores populares e com reivindicações abolicionistas, foram reduzidos a meros episódios periféricos. Essa insurgência popular demonstrou a existência de um projeto alternativo de nação, um projeto que a elite portuguesa e, posteriormente, a elite brasileira se esforçaram para suprimir.
A pensadora Beatriz Nascimento nos lembra que a luta pela liberdade não se limitava aos campos de batalha. Ela argumenta que o quilombo, por exemplo, "não é apenas um local de fuga, mas uma experiência política e cultural de liberdade". O histórico Quilombo de Palmares já havia demonstrado, séculos antes, a viabilidade de uma sociedade autônoma, organizada por e para a população negra. No século XIX, a Revolta dos Malês em 1835 e outras insurgências negras denunciaram os limites de uma independência que se dizia nacional, mas que negava liberdade e dignidade a uma parte fundamental da população. Tais levantes "colocavam em xeque a ordem escravocrata, ao mesmo tempo em que propunham outras formas de viver a liberdade", como bem observa João José Reis.
O mesmo apagamento se estende aos povos indígenas, para os quais a independência significou a intensificação da expropriação territorial e a negação de suas identidades. O professor Kabengele Munanga ressalta que a identidade nacional brasileira foi forjada sobre o "mito da mestiçagem", uma narrativa que convenientemente "apagou os conflitos e marginalizou a presença indígena e negra". Assim, a celebração do 7 de setembro se torna o triunfo de uma identidade branca e eurocêntrica, que ignora as lutas e o sangue derramado por aqueles que foram oprimidos pela própria nação que nascia.
A independência inacabada: um horizonte de luta
Se a independência de 1822 foi um arranjo político que manteve intactas as hierarquias raciais e sociais, a verdadeira independência deve ser vista como um processo em aberto, uma luta contínua. Florestan Fernandes, em sua obra O negro no mundo dos brancos, nos adverte que "a abolição não liquidou o problema racial, apenas deslocou-o para outros terrenos da vida social".
Diante disso, os movimentos negros, indígenas e sociais contemporâneos não são apenas a continuação das lutas históricas, mas também a radicalização da demanda por soberania — sobre os corpos, os territórios, a cultura e os modos de vida. Reposicionar a pergunta "independência para quem?" é essencial para a desconstrução do mito do 7 de setembro. Mais do que um evento concluído há mais de 200 anos, a independência é um horizonte de luta a ser alcançado. A emancipação real e plena do Brasil só será possível com a superação das desigualdades raciais, territoriais e sociais que permeiam a nossa história e que, até hoje, definem quem tem acesso à liberdade e à dignidade.









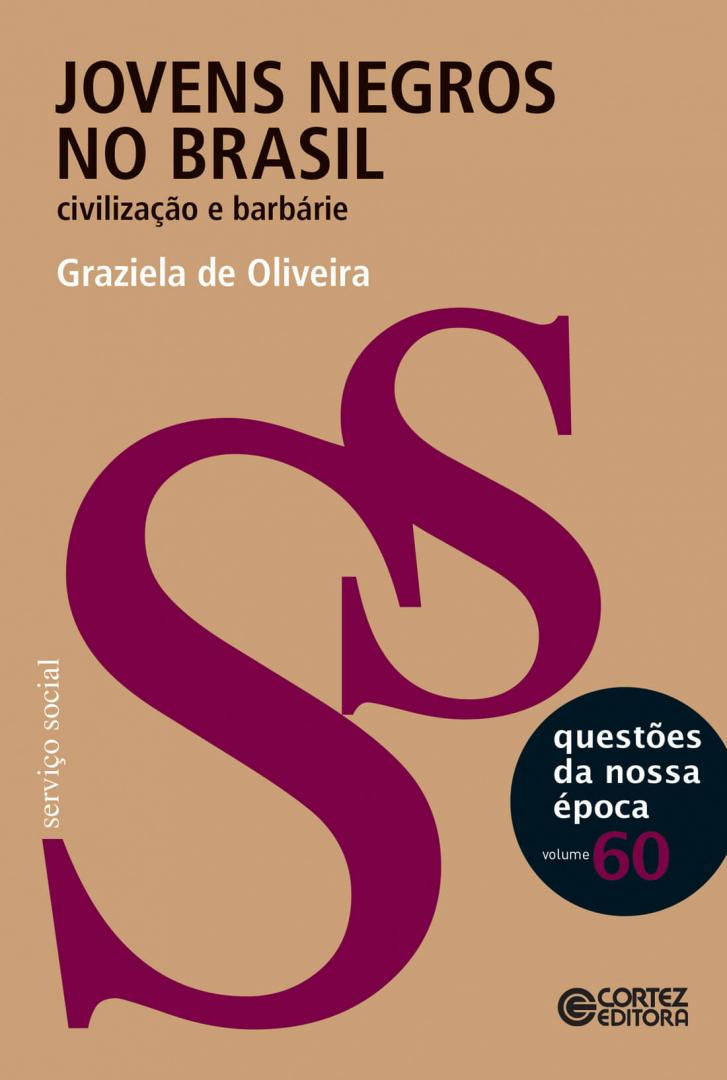
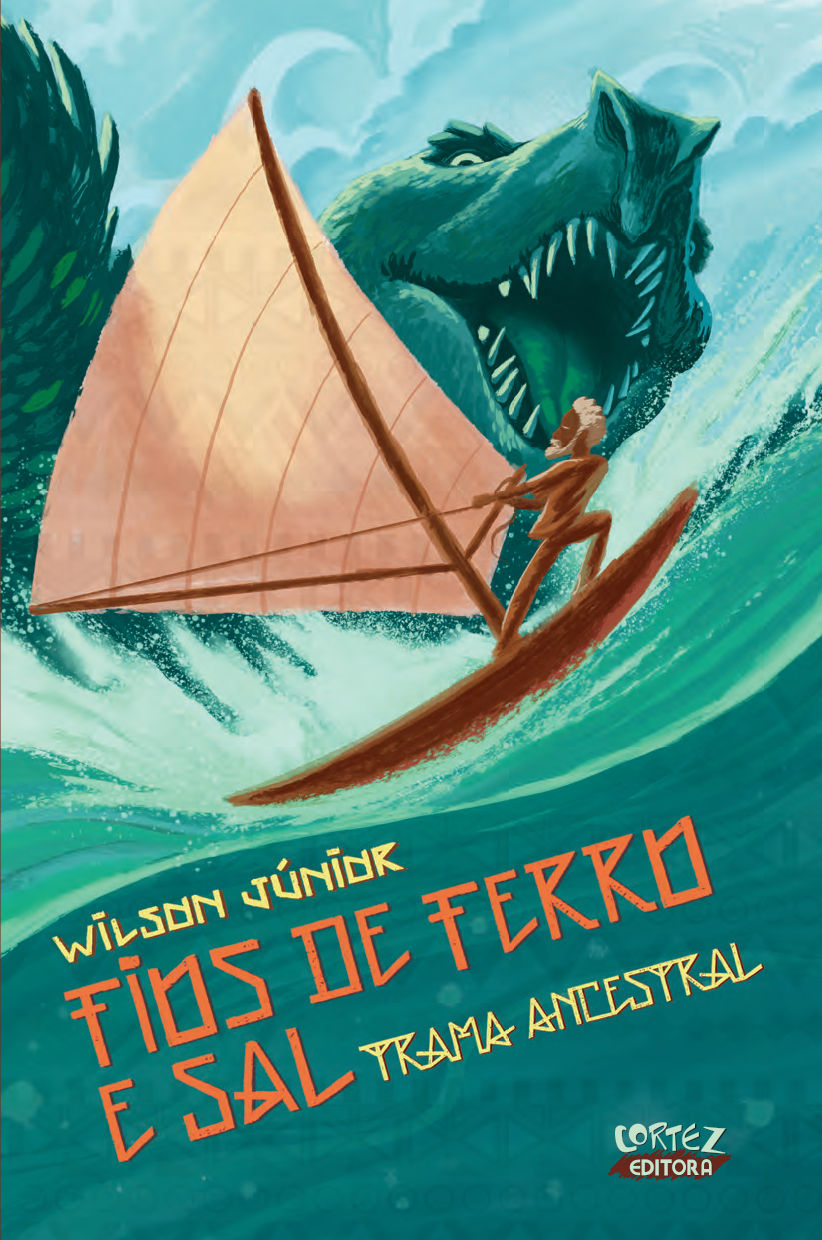









Comentários