A Balança da Injustiça: O Racismo Estrutural no Sistema de Segurança Pública
- Helbson de Avila
- 7 de set. de 2025
- 5 min de leitura

A imagem clássica da Justiça como uma figura feminina de olhos vendados, equilibrando uma balança e portando uma espada, representa o ideal de imparcialidade: todos deveriam ser julgados com igualdade, sem distinções de cor, classe ou origem. No entanto, no Brasil, esse ideal se revela uma ficção. A “venda da Justiça” cai sistematicamente diante da população negra, transformando a cor da pele em marcador decisivo para determinar quem é suspeito, quem é abordado, quem é preso e quem é morto.
As evidências são contundentes. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2023), 77% das vítimas de mortes violentas intencionais no Brasil são negras, e 75% dos mortos pela polícia pertencem a esse mesmo grupo racial. No sistema prisional, os dados do Infopen (2022) revelam que 67% da população carcerária é negra. Esses números não são aleatórios; eles evidenciam um padrão estrutural.
A tese que guia este ensaio é inequívoca: o sistema de segurança pública brasileiro, em vez de garantir proteção, atua como um dos principais mecanismos de reprodução do racismo estrutural. E essa tese se manifesta, primeiramente, nas ruas, por meio da abordagem policial.
O Racismo na Abordagem Policial e nas Ruas
A ponta mais visível da violência racial manifesta-se nas ruas, por meio das abordagens policiais. O fenômeno conhecido como perfilamento racial (racial profiling) consiste em selecionar alvos de revista, intimidação e detenção com base em características físicas e estereótipos raciais. Ser jovem, negro e morador de periferia significa, na prática, carregar o estigma de “suspeito natural”.
Essa prática é tão corriqueira que se normalizou socialmente. Estudos etnográficos como os de Michel Misse (2010) sobre o “sujeito suspeito” mostram como a cor da pele se torna critério tácito de suspeição, independentemente de provas ou comportamentos concretos. A consequência é trágica: a letalidade policial incide de forma desproporcional sobre homens negros jovens, reproduzindo a lógica de uma política de segurança que, em vez de proteger, escolhe quem deve viver e quem pode morrer.
Aqui se articula a noção de necropolítica proposta por Achille Mbembe (2011), segundo a qual o poder soberano define “quem pode ser exposto à morte”. No Brasil, os indicadores de violência policial comprovam que a necropolítica tem cor. O corpo negro, historicamente associado à criminalidade, é mais vulnerável ao uso abusivo da força e à execução sumária.
A Seletividade do Sistema Penal
A violência não se encerra na rua; a lógica da seletividade racial, que começa na abordagem policial, se desdobra dentro do sistema judicial. O conceito de seletividade penal, amplamente discutido por Alessandro Baratta (1999), descreve como o sistema criminal não incide sobre todos os grupos da mesma forma. No Brasil, os negros enfrentam desvantagens em cada etapa: da denúncia inicial até a execução da pena.
Estudos da Associação Brasileira de Jurimetria (ABJ, 2021) demonstram que, para crimes equivalentes, réus negros têm mais chances de serem denunciados e condenados do que réus brancos. Além disso, a prisão preventiva — aplicada em nome da “ordem pública” — recai desproporcionalmente sobre a população negra e periférica. O déficit de acesso a uma defesa jurídica de qualidade agrava esse cenário: 80% dos réus dependem da Defensoria Pública, instituição cronicamente sobrecarregada.
Angela Davis (2003), ao discutir o complexo industrial-prisional nos Estados Unidos, aponta que o encarceramento em massa não é apenas consequência do crime, mas uma estratégia de controle racial. Essa análise se aplica ao Brasil, onde o sistema penal serve como dispositivo de gestão racializada da pobreza, criminalizando a sobrevivência em contextos de vulnerabilidade social.
O resultado é um quadro de encarceramento em massa da população negra, que, de acordo com o Infopen (2022), não apenas domina estatisticamente as prisões, mas enfrenta condições de maior precariedade, violência e estigmatização dentro do sistema.
A Inércia do Estado e a Via da Mudança
Diante de um quadro tão explícito, que se desdobra em todas as etapas, surpreende a inação histórica do Estado. As políticas de segurança pública são formuladas sob a premissa de neutralidade racial, evitando reconhecer que o problema é estrutural. Como observa Lélia Gonzalez (1988), o racismo no Brasil se manifesta de forma “silenciosa e naturalizada”, mascarado sob discursos de igualdade formal.
Contudo, ignorar o viés racial é perpetuar a violência. A ausência de um recorte racial nas políticas públicas de segurança e justiça mantém a ficção de que todos são igualmente protegidos, quando, na prática, a seletividade racial é a norma.
É possível, no entanto, apontar caminhos de mudança. Três medidas se destacam:
Justiça Restaurativa: experiências em diversos países e no Brasil têm mostrado eficácia na redução da reincidência, ao privilegiar a reparação dos danos e o diálogo, em vez do encarceramento automático.
Políticas de Desencarceramento: revisão de prisões preventivas e penas alternativas em crimes de menor potencial ofensivo, especialmente os relacionados a drogas, que são um dos motores do encarceramento seletivo.
Combate ao Racismo Institucional: formação obrigatória antirracista para policiais, magistrados e membros do Ministério Público, com mecanismos de monitoramento e responsabilização.
Experiências como o Programa Juventude Viva, lançado em 2012, mostraram que políticas específicas para redução da violência contra jovens negros podem ter impacto positivo, mas sua descontinuidade revela o pouco compromisso do Estado em enfrentar o problema de forma estrutural.
Conclusão: A Justiça Racial Começa com Dados
Em suma, a análise aqui desenvolvida revela que a segurança pública no Brasil está longe de ser neutra. Ao contrário, ela se estrutura como um mecanismo ativo de reprodução do racismo. Da abordagem policial à sentença judicial, a cor da pele é determinante no destino dos indivíduos.
Frente a isso, os dados se tornam instrumentos políticos e epistemológicos. O SIMIR (Sistema Integrado de Monitoramento da Igualdade Racial), enquanto ferramenta de coleta, análise e divulgação de indicadores, tem papel essencial: fornecer evidências empíricas que desmontem a retórica da imparcialidade estatal e fortaleçam a luta por justiça racial. Como lembra Sueli Carneiro (2005), “nominar o racismo é um ato político”. Produzir e divulgar dados é uma forma de nomear e expor a violência invisibilizada.
A justiça racial no Brasil só será possível quando o racismo deixar de ser tratado como um “acidente” e for reconhecido como princípio organizador das desigualdades sociais e institucionais. A balança da justiça ainda tem cor, e sua cor é a do sangue negro derramado pela violência policial e do aprisionamento seletivo.
O desafio é urgente: transformar os dados em ação política, as denúncias em reformas estruturais, e as estatísticas em instrumentos de emancipação. Somente assim a Justiça, enfim, poderá voltar a ser cega — não à cor da pele, mas às desigualdades históricas que insistem em marcar destinos.
Referências
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JURIMETRIA (ABJ). Discriminação Racial no Sistema de Justiça Criminal. São Paulo: ABJ, 2021.
BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal: Introdução à Sociologia do Direito Penal. 3. ed. Rio de Janeiro: Revan, 1999.
BRASIL. Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN). Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – INFOPEN. Brasília: Ministério da Justiça, 2022.
CARNEIRO, Sueli. A Construção do Outro como Não-Ser como Fundamento do Ser. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade de São Paulo, 2005.
DAVIS, Angela. Are Prisons Obsolete? New York: Seven Stories Press, 2003.
FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA (FBSP). Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023. São Paulo: FBSP, 2023.
GONZALEZ, Lélia. A categoria político-cultural de amefricanidade. Revista Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro, n. 92/93, p. 69-82, 1988.
MBEMBE, Achille. Necropolítica. 2. ed. São Paulo: n-1 Edições, 2011.
MISSE, Michel. Crime e Sujeito Suspeito: Aspectos da Violência no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.









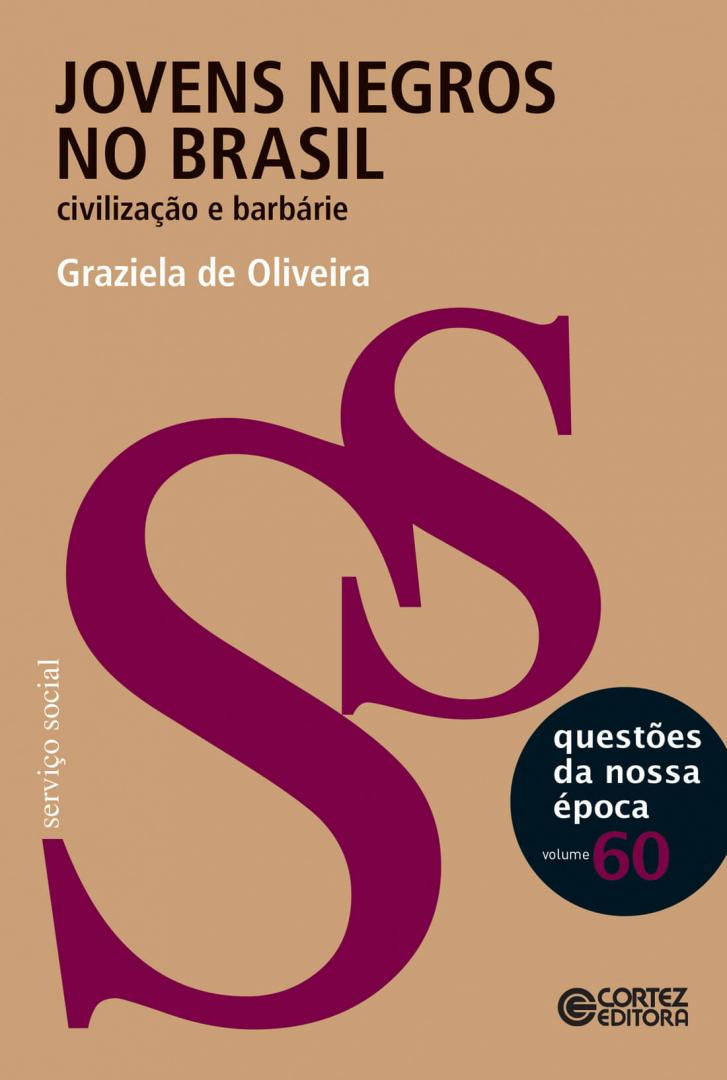
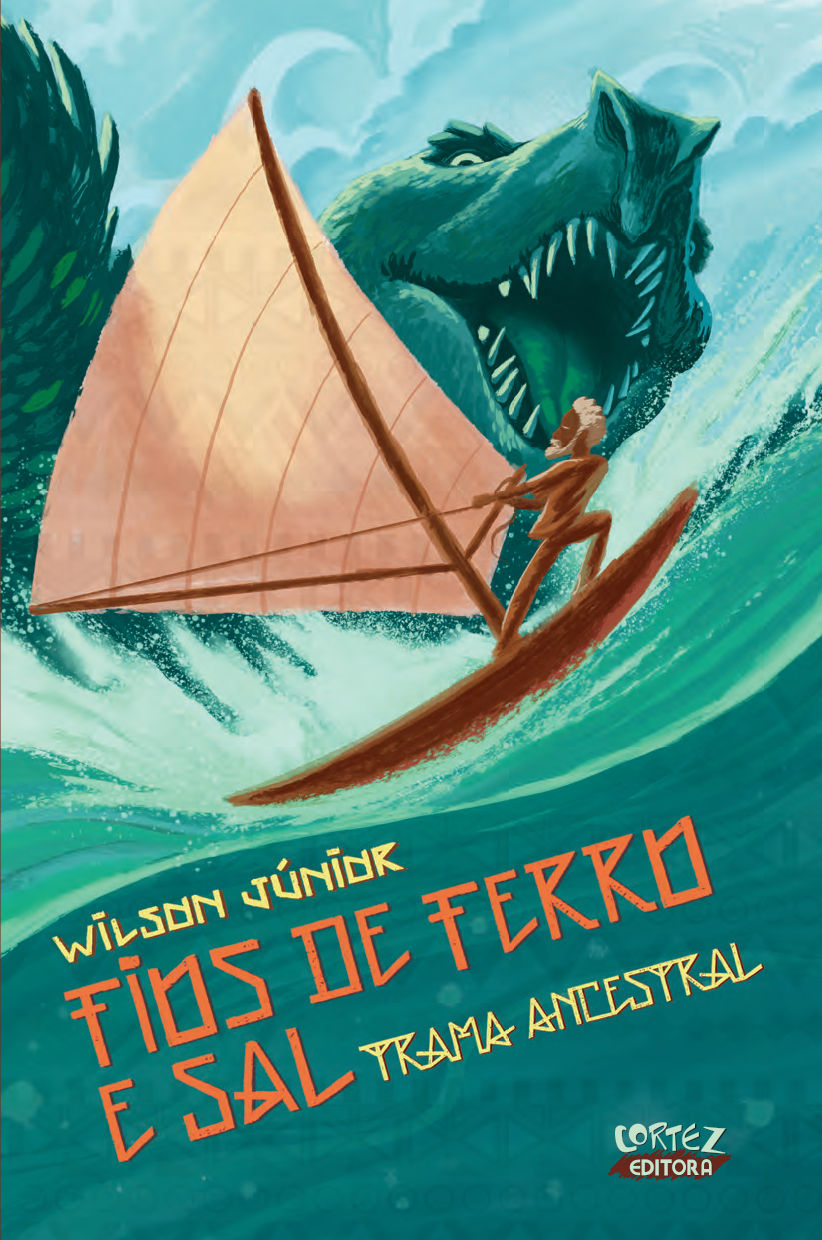









Comentários