O Racismo no asfalto: O Custo do Tempo e o Direito à Cidade
- Helbson de Avila
- 5 de out. de 2025
- 4 min de leitura

1. O Preço Racial de Viver na Periferia
O direito à cidade, em seu ideal mais nobre, é a promessa de que o espaço urbano nos pertence de forma coletiva. É o direito de circular, de acessar oportunidades e de viver com dignidade. Contudo, nas grandes metrópoles brasileiras, essa promessa se quebra, e a fratura é racial. O direito à cidade é um privilégio branco, e o custo de viver nela — medido em tempo e saúde — é um fardo historicamente imposto à população negra.
Os números revelam essa triste geografia da desigualdade. Trabalhadores negros gastam, em média, 30% mais tempo no deslocamento diário do que trabalhadores brancos (IPEA, 2022). O IBGE (2023) nos mostra que a população negra tem o dobro de probabilidade de não ter acesso a serviços básicos, como saneamento. Esses dados não são acidentes. Eles são a prova de que a segregação urbana é o resultado de uma estrutura histórica de exclusão racial.
Este ensaio defende que a desigualdade de mobilidade e infraestrutura é, na verdade, a expressão de um racismo espacial e institucional que desvaloriza o tempo e a própria vida da população negra. Romper com essa lógica exige um novo paradigma de planejamento urbano: antirracista, reparador e, acima de tudo, humano.
2. O Racismo no Mapa: A Gênese da Segregação
Para entender o presente, é preciso revisitar as raízes do nosso urbanismo. O racismo nas cidades brasileiras não nasceu espontaneamente; ele foi construído. Após 1888, a população negra, liberta, mas sem terra, crédito ou política de integração, foi empurrada para as margens. As primeiras comunidades de moradia precária surgiram como o único refúgio, forjando uma "cartografia racial" (Observatório das Metrópoles, 2021) onde a pobreza e a negritude foram empurradas para as periferias.
O triste é que esse padrão se repetiu, mesmo nas políticas mais recentes. Programas como o BNH e o Minha Casa, Minha Vida, ao priorizarem terrenos distantes e mais baratos para moradias populares, agiram como um mecanismo ativo que reforçou a segregação. A cidade se desenvolveu concentrando investimentos em regiões centrais, enquanto as periferias ficavam dependentes da autoconstrução e de serviços precários. Como aponta a ONU-Habitat (2022), "o espaço urbano reflete e reproduz as desigualdades sociais quando o planejamento ignora a dimensão racial da exclusão".
3. O Custo Invisível: Roubo de Tempo e Saúde
O preço de viver distante é o tempo roubado, e este é o efeito mais cruel do racismo espacial. Moradores de bairros periféricos, majoritariamente negros, gastam horas a mais por dia no transporte (ITDP, 2021). Essa expropriação da vida — tempo que poderia ser dedicado ao descanso, à educação, ao cuidado familiar ou a um segundo emprego — é uma pena invisível imposta pela geografia da desigualdade.
Paralelamente, o racismo ambiental adoece. Enquanto a população branca tem maior acesso à rede de esgoto e água tratada, a população negra ainda é duplamente exposta à falta de saneamento (apenas 55% têm acesso à rede de esgoto, SNIS, 2023). Essa falha básica é uma manifestação brutal de "vulnerabilidade ambiental racializada", onde a cor da pele se torna um preditor da qualidade de vida urbana. O racismo espacial não apenas rouba o tempo; ele ataca os corpos, encurta a expectativa de vida e transforma o território em um marcador de risco.
4. A Inércia do Estado e a Urgência da Intervenção
A estrutura da desigualdade urbana é sustentada pela omissão do Estado. O poder público, ao não investir em transporte coletivo de qualidade nas periferias e ao permitir que a especulação imobiliária continue a expulsar os mais pobres (quase sempre negros) para regiões desassistidas, atua como um reprodutor ativo do racismo institucional.
Não se trata de desinformação. O investimento público segue um padrão racista: bairros de maioria negra recebem significativamente menos investimento per capita em mobilidade e saneamento que bairros brancos (IPLANRIO, 2022). O resultado é a perpetuação de um modelo urbano que trata o espaço como mercadoria de luxo e o corpo negro como excedente.
É urgente reorientar o planejamento urbano para a justiça racial. Isso implica uma mudança de mentalidade: não basta construir moradias; é preciso garantir a localização estratégica, o acesso à infraestrutura, o transporte eficiente e os serviços públicos de qualidade. O urbanismo antirracista é, antes de tudo, um projeto de reparação civilizatória.
5. O Caminho para a Cidade Justa: Soluções Ativas
Felizmente, existem caminhos. Estudos do IPEA (2023) e do ITDP (2022) mostram que a integração entre Habitação de Interesse Social (HIS) e sistemas de transporte de massa (próximo a estações de metrô ou corredores de ônibus) funciona.
Experiências como o Programa de Urbanização Integrada de São Paulo, que combinou moradia popular e proximidade com o transporte, resultaram em uma redução média de 38% no tempo de trajeto e em um aumento da taxa de emprego dos moradores. A eficácia dessas políticas demonstra que planejar com dados é planejar com justiça.
É nesse ponto que o SIMIR se torna uma bússola. Ao cruzar dados de raça, território, infraestrutura e mobilidade, ele revela onde o racismo espacial opera e quais políticas têm impacto real. Ele transforma a estatística fria em insumo vital para a pressão social e a tomada de decisão pública.
6. O Direito de Estar e Ser
Combater o racismo espacial é lutar pela vida plena. O direito à cidade, quando negado à população negra, deixa de ser um princípio democrático e torna-se um privilégio de localização.
O SIMIR é a ferramenta que torna visível o que a cidade tenta ocultar — o tempo roubado, o território negligenciado, a cor da desigualdade. Ele nos dá as evidências necessárias para reivindicar a universalização do direito à cidade.
O asfalto, palco de tantas exclusões, precisa ser reconquistado como território de cidadania. Lutar por transporte, moradia e saneamento dignos é reivindicar o tempo e o futuro que foram sequestrados. É afirmar que a cidade justa só existirá quando o direito de estar e ser não depender da cor da pele,
mas da condição humana.







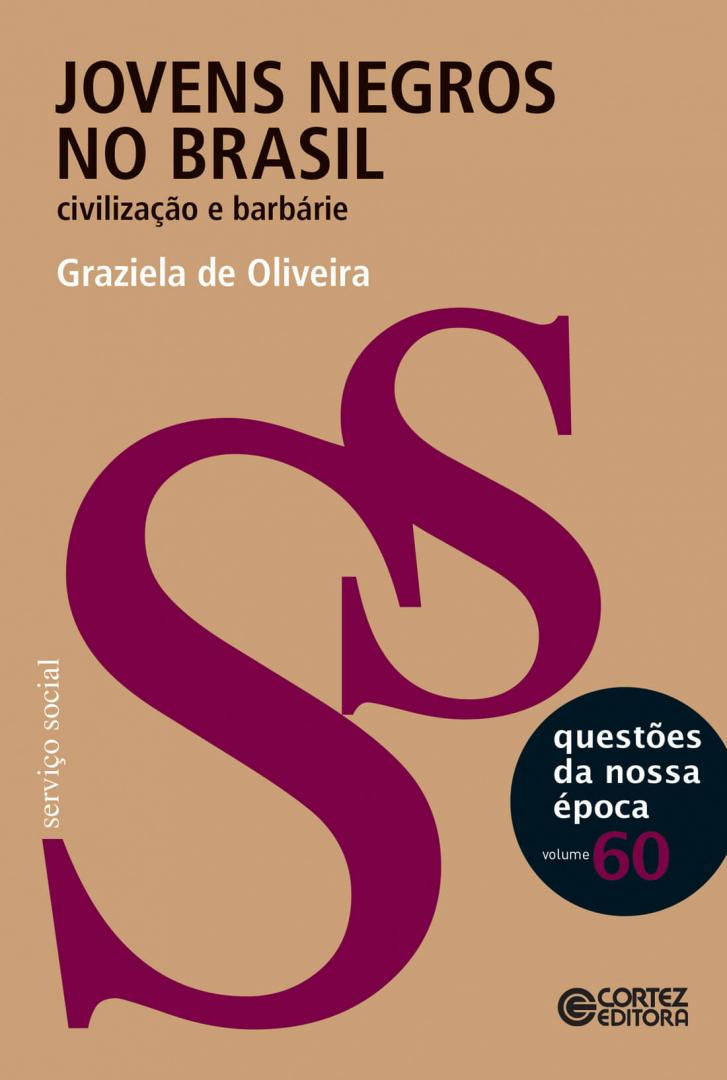
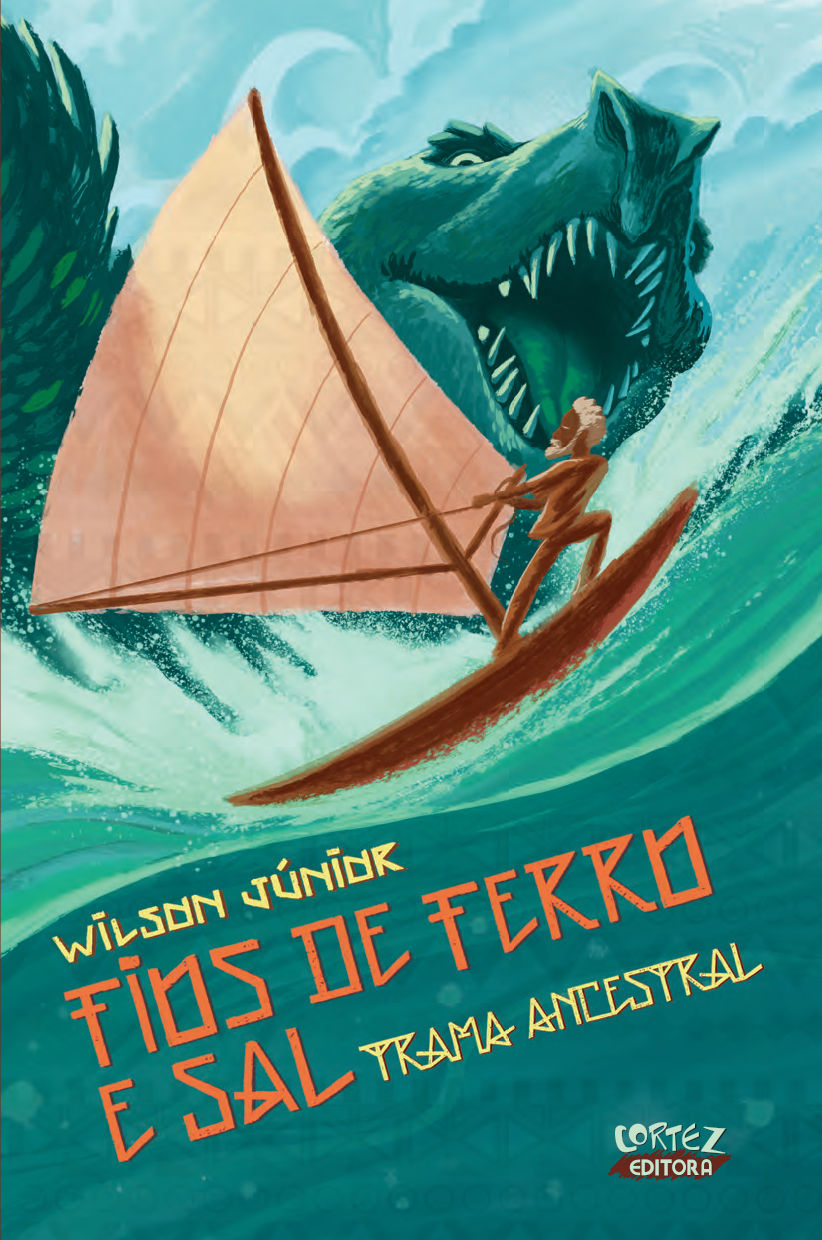









Comentários