A Cor da Luta: racialidades, a herança da escravidão e o dia do Trabalhador no Brasil
- Helbson de Avila
- 1 de mai. de 2025
- 5 min de leitura

O 1º de Maio, Dia Internacional do Trabalhador, é celebrado em diversas partes do mundo como um marco das conquistas sociais da classe trabalhadora. No Brasil, contudo, essa data carrega uma carga histórica particular, marcada pela omissão de um dos pilares que sustentaram a economia e a estrutura social do país por mais de três séculos: a escravidão negra. A construção do mundo do trabalho no Brasil é indissociável das relações raciais e da herança colonial escravocrata que moldou as bases da sociedade. Nesse sentido, é impossível compreender a gênese e o desenvolvimento da classe trabalhadora brasileira sem considerar a centralidade da população negra e a permanência das estruturas de desigualdade racial que derivam da escravidão.
A escravidão no Brasil, como destaca Angela Davis (2016), foi mais do que um regime de exploração econômica – tratou-se de um sistema de desumanização meticulosamente institucionalizado. “A escravidão racial, sobretudo no contexto americano e latino-americano, não apenas explorava corpos, mas destruía culturas, apagava identidades e impunha uma ordem social baseada na subjugação racial” (DAVIS, 2016, p. 28). O Brasil foi o maior destino de africanos escravizados nas Américas, recebendo cerca de 40% dos mais de 12 milhões de homens, mulheres e crianças sequestrados do continente africano (SCHWARCZ; GOMES, 2019). A escravidão brasileira não era apenas uma prática econômica: era uma lógica de organização social, política e simbólica que naturalizou a subalternidade da população negra e sua exclusão dos direitos mais elementares.
A resistência negra, contudo, jamais foi passiva. Como afirma Clóvis Moura (1999), “a história do negro no Brasil é, antes de tudo, uma história de luta”. Os quilombos, as revoltas urbanas e rurais, as fugas e as pequenas insubordinações cotidianas nas senzalas e nas lavouras são expressões de uma consciência política e coletiva que desafiou constantemente a ordem escravocrata. O Quilombo dos Palmares, por exemplo, constitui o maior símbolo dessa resistência, com sua organização política autônoma e sua defesa armada da liberdade. As Revoltas dos Malês (1835), lideradas por negros muçulmanos em Salvador, revelam não apenas um levante contra a escravidão, mas uma insurgência marcada por organização militar e fundamentação religiosa e cultural própria.
A abolição da escravidão, em 13 de maio de 1888, representou mais um ato simbólico do que uma transformação estrutural. Conforme argumenta Abdias do Nascimento (2009), “a Lei Áurea libertou os negros, mas não os integrou à cidadania”. Não houve políticas de reparação, de inclusão social ou de acesso à terra, educação e trabalho. Pelo contrário, o Estado brasileiro promoveu políticas imigratórias voltadas para europeus, com o objetivo deliberado de “branquear” a força de trabalho e a população brasileira. Essa ideologia do branqueamento, como aponta Lilia Moritz Schwarcz (1993), reforçou a exclusão dos negros e naturalizou sua posição social marginalizada.
Nesse contexto, o surgimento do movimento operário brasileiro, a partir do final do século XIX e início do século XX, embora influenciado por ideologias progressistas como o socialismo e o anarquismo, reproduziu muitas vezes o racismo da sociedade da época. Os sindicatos e associações operárias, em grande parte organizadas por imigrantes europeus, não incorporaram a questão racial em suas pautas e, muitas vezes, excluíram explicitamente os trabalhadores negros. Como revela a historiadora Amilcar Pereira (2019), “a universalização do ‘trabalhador’ como sujeito político ocultou as hierarquias raciais existentes no mundo do trabalho e apagou a experiência dos trabalhadores negros”.
O 1º de Maio, cuja origem remonta à greve dos operários de Chicago em 1886, foi incorporado ao calendário político brasileiro como uma data de luta e também de cooptação, especialmente a partir do Estado Novo (1937-1945), quando Getúlio Vargas oficializou a celebração e procurou controlá-la através de um discurso corporativista e paternalista. No entanto, para os trabalhadores negros, essa data frequentemente revelou-se ambígua: símbolo de uma luta necessária, mas também memória de uma exclusão persistente. Enquanto o operariado branco urbano avançava em direitos e reconhecimento, a população negra era relegada ao trabalho informal, doméstico, rural ou subalternizado.
As desigualdades raciais no mundo do trabalho persistem até os dias atuais. Segundo dados do IBGE (2023), os trabalhadores negros ganham, em média, 40% menos que os brancos, mesmo quando possuem escolaridade semelhante. As mulheres negras, em especial, estão na base da pirâmide ocupacional, concentradas em trabalhos domésticos e precários. Isso revela o que Silvio Almeida (2019) denomina de “racismo estrutural”: uma lógica sistêmica que “transcende os indivíduos e está incorporada nas instituições, práticas e discursos que regulam a sociedade”.
A luta por direitos trabalhistas no Brasil, portanto, precisa ser reconceituada a partir de uma perspectiva interseccional que considere o impacto das racialidades. Não basta falar em igualdade de direitos trabalhistas sem enfrentar as desigualdades raciais que estruturam o mercado de trabalho. Como aponta Sueli Carneiro (2003), “a neutralidade racial das políticas públicas é uma forma sofisticada de reprodução das desigualdades”. A luta antirracista é, assim, um componente essencial da luta de classes no Brasil.
A memória da resistência negra – dos quilombos às greves operárias, das empregadas domésticas às lideranças de movimentos sociais contemporâneos – deve ocupar lugar central na celebração do Dia do Trabalhador. Reconhecer que a construção do Brasil se deu sobre os ombros, as mãos e o sangue de milhões de pessoas negras é um passo fundamental para construir uma sociedade justa. O 1º de Maio precisa deixar de ser um ritual vazio ou excludente para tornar-se um ato político radical de rememoração, denúncia e compromisso com a justiça social e racial.
A verdadeira emancipação do trabalho no Brasil só será possível quando se romperem as amarras do racismo estrutural e se reconfigurar o conceito de trabalhador, incorporando sua diversidade étnico-racial e suas lutas específicas. Como escreveu Frantz Fanon (2008), “cada geração deve, a partir de uma relativa opacidade, descobrir sua missão, cumpri-la ou traí-la”. Cumprir a missão de uma luta trabalhista verdadeiramente inclusiva e emancipadora exige, no Brasil, dar cor à luta. A cor da luta é negra, é a cor da justiça, da dignidade e da transformação.
Bibliografia
ALMEIDA, Silvio. Racismo Estrutural. São Paulo: Pólen, 2019.
CARNEIRO, Sueli. A construção do outro como não-ser como fundamento do ser. Tese (Doutorado em Educação) – USP, 2003.
DAVIS, Angela. Mulheres, raça e classe. São Paulo: Boitempo, 2016.
FANON, Frantz. Os condenados da terra. São Paulo: Editora Civilização Brasileira, 2008.
MOURA, Clóvis. Rebeliões da Senzala: quilombos, insurreições, guerrilhas. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 1999.
NASCIMENTO, Abdias do. O genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo mascarado. São Paulo: Perspectiva, 2009.
PEREIRA, Amilcar. O ensino de história e a cultura afro-brasileira. Rio de Janeiro: Pallas, 2019.
SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e a questão racial no Brasil – 1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.
SCHWARCZ, Lilia; GOMES, Flávio dos Santos. Dicionário da escravidão e liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.
IBGE. Síntese de Indicadores Sociais 2023. https://www.ibge.gov.br/









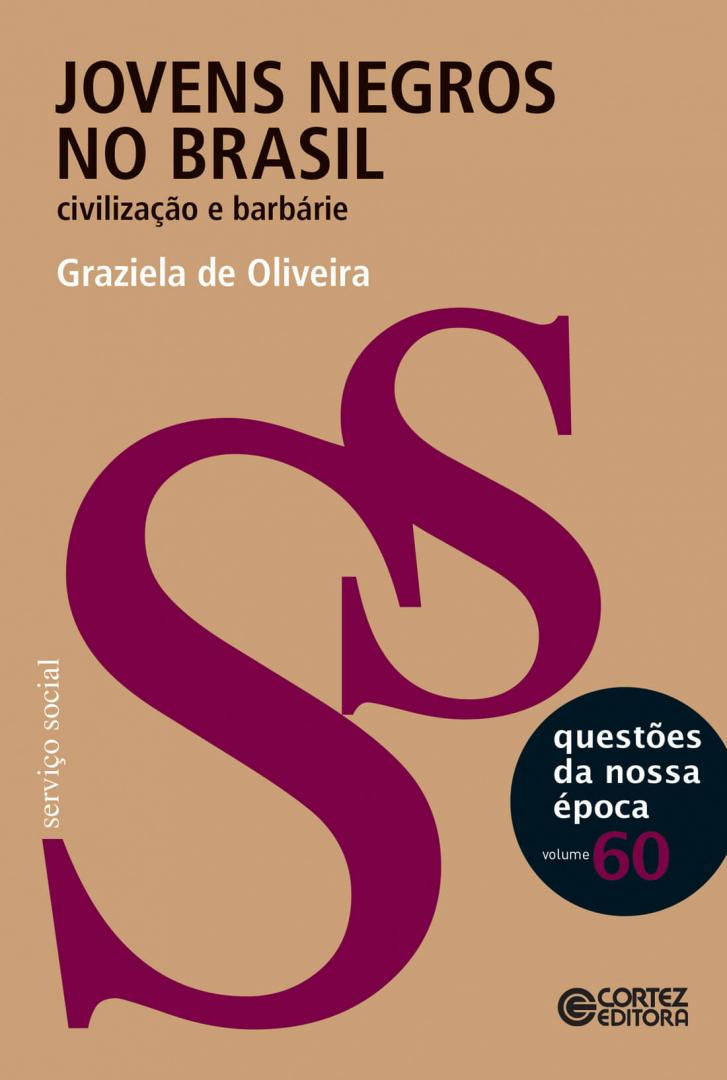
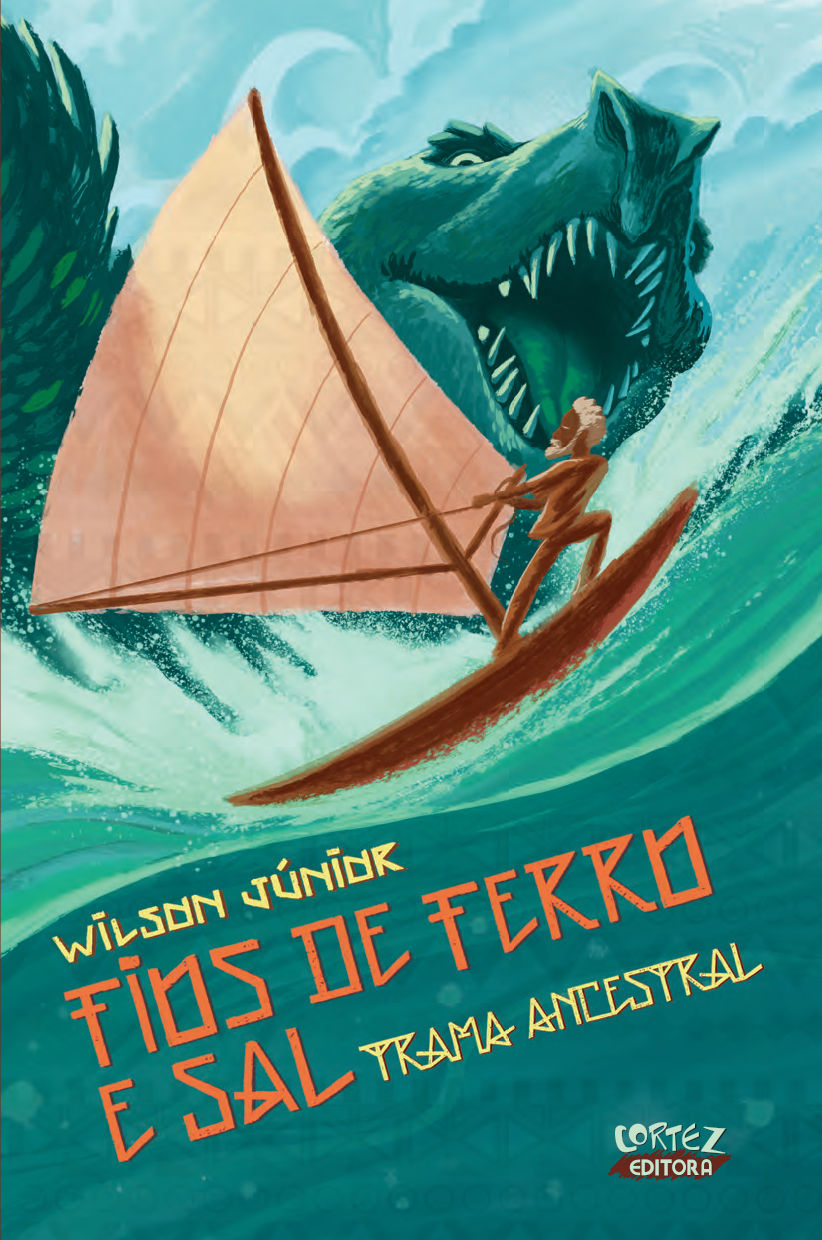









Comentários