Adorno no Século XXI: Como a Indústria Cultural nos vende a ansiedade como entretenimento
- Helbson de Avila
- 13 de set. de 2025
- 4 min de leitura

Ao celebrarmos a vida e a obra de Theodor W. Adorno (1903-1969), um dos pensadores mais influentes da Escola de Frankfurt, torna-se crucial revisitar o conceito de indústria cultural. Formulada em Dialética do Esclarecimento (1944) com Max Horkheimer, a crítica de Adorno alertava para a transformação da cultura em mercadoria sob o capitalismo avançado. Longe de ser um espaço de emancipação e reflexão, a cultura passava a ser produzida em massa, padronizada e consumida de forma passiva, visando a reprodução do sistema e a adaptação do indivíduo à realidade.
Sete décadas após a publicação da obra, essa análise não apenas se mantém relevante, mas ganha contornos ainda mais complexos. A indústria cultural do século XXI, operando através de plataformas digitais, redes sociais e algoritmos de recomendação, internalizou e intensificou a lógica da homogeneização. A padronização que antes se manifestava no cinema de Hollywood e na música popular, hoje se reflete em algoritmos que curam nossa realidade, determinando não apenas o que consumimos, mas também o que pensamos, sentimos e desejamos. Essa lógica perversa coloniza o tempo livre e molda a subjetividade, gerando uma sensação difusa e persistente de ansiedade, isolamento e vazio existencial.
A promessa de liberdade e a colonização do Tempo Livre
Adorno e Horkheimer afirmavam que “a diversão é o prolongamento do trabalho sob o capitalismo tardio”. Essa máxima, outrora chocante, hoje se tornou senso comum. O lazer, em vez de ser uma pausa para o indivíduo se reconectar consigo mesmo e com o mundo, é capturado pelo ciclo produtivo. O scroll infinito e as maratonas de séries não são apenas formas de entretenimento; são mecanismos que transformam cada segundo em uma oportunidade de engajamento, coleta de dados e consumo. A promessa de autonomia e escolha livre é ilusória, pois o prazer é convertido em uma compulsão que esvazia a experiência de qualquer profundidade.
O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, em Sociedade do Cansaço (2015), atualiza esse diagnóstico ao mostrar como a hiperconexão e a cultura da performance geram sujeitos exaustos e autoexploradores. A lógica de “curtir” e “compartilhar” substitui a construção de laços sociais sólidos, enquanto a necessidade incessante de projetar uma vida perfeita alimenta a alienação do próprio eu. O indivíduo, sob o imperativo de ser constantemente produtivo e visível, transforma o tempo livre em mais uma tarefa a ser cumprida, submetendo-se a uma vigilância autoimposta.
A mercadoria humana e o espetáculo da ansiedade
A análise de Guy Debord em A Sociedade do Espetáculo (1967) também ilumina o nosso presente. Não estamos apenas rodeados de imagens; vivemos em uma realidade mediada por elas. Nas redes sociais, cada indivíduo se torna ao mesmo tempo espectador e mercadoria. A busca por atenção e validação transforma a vida em um espetáculo ininterrupto, onde a experiência imediata é sacrificada em nome da performance.
Esse cenário se torna ainda mais sombrio com a ascensão da cultura do cancelamento. O que poderia ser um espaço de diálogo e responsabilização se converte em tribunais digitais, onde o engajamento é alimentado por linchamentos públicos. A fragilidade dos vínculos sociais, mediada pelo espetáculo digital, é regulada por uma lógica punitiva e efêmera. Adorno, em Mínima Moralia (1951), já advertia que “não há vida verdadeira na falsa”. A solidariedade e o afeto são substituídos por uma solidão performática, onde a conexão é superficial e o pertencimento é condicional à exibição constante de uma identidade ajustada às normas do momento.
Padronização, Saúde Mental e o consumo da insatisfação
A indústria cultural contemporânea não se limita a vender produtos; ela padroniza modos de ser. A repetição de coreografias virais, a replicação de desafios digitais e a busca por uma visibilidade incessante esvaziam a singularidade da experiência humana. O indivíduo se transforma em funcionário de sua própria imagem, editando-se e ajustando-se para permanecer relevante em um mercado de atenção implacável.
Essa liquidez das relações, descrita por Zygmunt Bauman em Modernidade Líquida (2001), é potencializada pelas plataformas digitais, que intensificam os sentimentos de solidão e insegurança. O resultado é um aumento alarmante de quadros de ansiedade, depressão e síndrome do impostor, especialmente entre jovens expostos à comparação constante com vidas “editadas” para parecerem perfeitas. A indústria cultural vende a insatisfação como um motor de consumo: a sensação de insuficiência é monetizada através de produtos, serviços e soluções mágicas para uma vida que, sob as lentes do espetáculo, nunca é boa o suficiente.
A crítica como gesto de resistência
Revisitar Adorno não é apenas um exercício intelectual, mas um gesto de resistência. Se a indústria cultural, como ele alertou, “adapta os homens à realidade existente”, nossa tarefa é recuperar espaços de reflexão, pausa e silêncio. Romper com a lógica da aceleração e da exibição permanente é um ato de subversão.
A crítica frankfurtiana nos convida a repensar a cultura não como mera mercadoria, mas como uma potência de emancipação. Precisamos resgatar o valor da experiência estética autêntica, da conversa profunda e da conexão humana fora dos algoritmos. Pensar Adorno no século XXI é reconhecer que a indústria cultural, intensificada pelos algoritmos, não nos entretém; ela nos adoece. Ela não apenas vende a ansiedade como espetáculo, mas transforma a nossa insatisfação em combustível para o consumo, capturando nossos desejos mais íntimos e transformando-os em dados.
Resistir a esse processo exige não apenas consciência crítica, mas a criação de práticas coletivas de cuidado, solidariedade e reconstrução do sentido da experiência humana em meio ao ruído e à superficialidade da cultura digital.
📚 Referências
ADORNO, T. W.; HORKHEIMER, M. Dialética do Esclarecimento. Rio de Janeiro: Zahar, 1985.
ADORNO, T. W. Mínima Moralia: reflexões a partir da vida danificada. São Paulo: Ática, 1993.
BAUMAN, Z. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.
DEBORD, G. A Sociedade do Espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997.
HAN, B.-C. Sociedade do Cansaço. Petrópolis: Vozes, 2015.









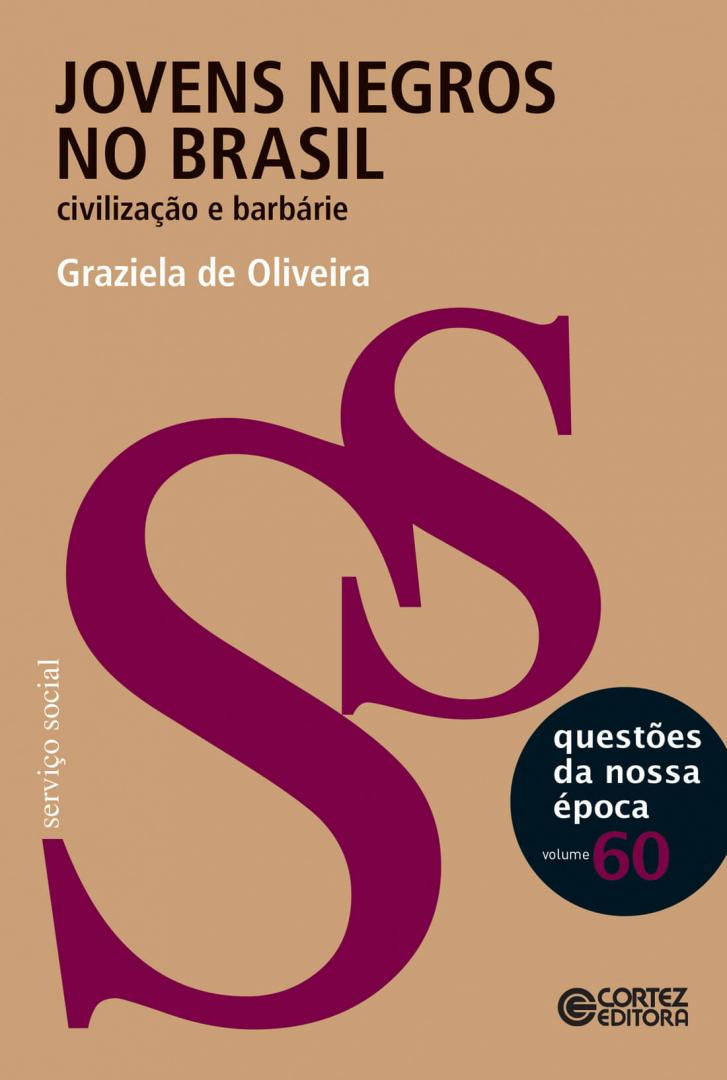
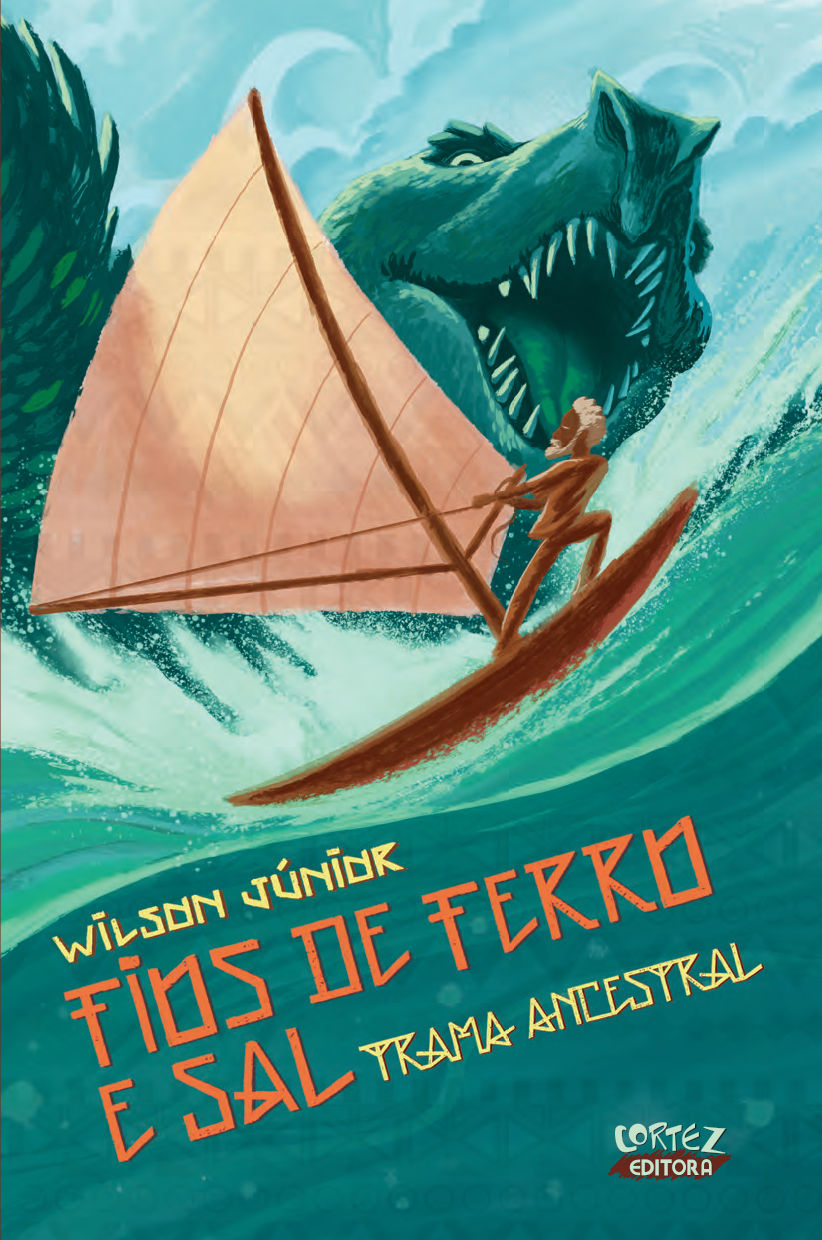









Comentários