Falar é só o começo: Por uma Política de Prevenção que entenda o sofrimento social
- Helbson de Avila
- 10 de set. de 2025
- 4 min de leitura

O debate sobre a prevenção ao suicídio ocupa cada vez mais espaço na agenda pública. Por muito tempo, falar sobre a morte autoinfligida era visto como um tabu, algo que devia ser mantido no silêncio. A campanha com o lema “falar é a melhor solução” rompeu, em certa medida, com essa lógica, abrindo espaço para que o tema fosse reconhecido como um problema de saúde pública. Essa mudança foi crucial. No entanto, reduzir a prevenção ao simples ato de “falar” ou de “discar um número” é insuficiente. O suicídio não pode ser entendido apenas como uma questão individual, mas como um fenômeno social profundamente ligado a desigualdades, violências estruturais e à ausência de políticas públicas eficazes.
É inegável que a escuta salva vidas. Quando alguém em sofrimento é ouvido sem julgamento, encontra um espaço para expressar a dor e, muitas vezes, redescobrir o sentido de viver. Mas seria ingênuo acreditar que o diálogo, por si só, basta. O sofrimento que leva tantas pessoas ao limite não surge do nada; ele é alimentado por contextos de exclusão, precariedade e discriminação. Nesse sentido, falar é o ponto de partida, mas prevenir de verdade exige transformar as condições sociais que criam e intensificam esse sofrimento.
Sofrimento Social e Vulnerabilidade
A clássica análise de Émile Durkheim, em O Suicídio (1897), já demonstrava que esse fenômeno não pode ser explicado somente pela subjetividade individual: ele também é produto de laços sociais, de estruturas de integração e regulação. Essa perspectiva continua atual quando observamos que as taxas de suicídio não estão distribuídas de forma homogênea.
Jovens negros, indígenas, pessoas LGBTQIA+, mulheres vítimas de violência de gênero e trabalhadores precarizados estão entre os grupos mais vulneráveis. Essa desigualdade não é obra do acaso: é consequência direta de uma sociedade marcada pelo racismo estrutural (Almeida, 2019), pela LGBTfobia, pela misoginia e pela marginalização econômica.
O conceito de sofrimento social, proposto por autores como Kleinman, Das e Lock (1997), é útil aqui: ele mostra como a dor individual é inseparável das violências coletivas e das estruturas de exclusão. O jovem negro que cresce sob a constante ameaça da violência policial, a mulher trans expulsa do mercado formal de trabalho, a mãe solo que enfrenta a fome sem apoio estatal — todos carregam dores que não são apenas pessoais, mas que refletem um sistema de exclusão. A falta de acesso a direitos básicos não só agrava o sofrimento emocional, como muitas vezes rouba qualquer perspectiva de futuro.
Políticas de Saúde Mental: Do discurso à ação
Se o suicídio é um fenômeno complexo, sua prevenção também precisa ser multifacetada. Isso significa investir em políticas de saúde mental públicas, universais e acessíveis a todos. Não se trata apenas de aumentar o número de psicólogos e psiquiatras, mas de fortalecer os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), criados no contexto da Reforma Psiquiátrica brasileira, que, como lembra Amarante (1995), buscava substituir a lógica manicomial por um modelo de cuidado em liberdade.
Além disso, o cuidado não pode ser restrito aos momentos de crise. A prevenção deve ser cotidiana: espaços de convivência comunitária, políticas de lazer e cultura, programas de geração de renda e oportunidades educacionais também funcionam como barreiras contra o desespero. Como destaca Maria Cecília Minayo (1998), a saúde mental não é apenas a ausência de doença, mas a possibilidade de viver de forma digna e com um sentido coletivo.
Prevenção é também combate às Desigualdades
É preciso ser claro: não existe prevenção ao suicídio sem o enfrentamento das desigualdades estruturais. O sofrimento psíquico, quando enraizado em realidades de exclusão, não se resolve apenas com psicoterapia ou medicamentos, embora ambos sejam fundamentais em certos casos. Ele exige, sobretudo, políticas de redistribuição de renda, moradia digna, educação inclusiva, transporte acessível e combate às violências de gênero, de raça e de orientação sexual.
Cada política de equidade — seja uma lei que protege os direitos LGBTQIA+, uma ação afirmativa que garante acesso de jovens negros à universidade ou um programa de transferência de renda que combate a fome — deve ser vista como uma política de prevenção ao suicídio. Achille Mbembe (2018), ao discutir a necropolítica, mostra que o Estado escolhe quais vidas são viáveis e quais podem ser descartadas. Inverter essa lógica é fundamental para a prevenção: garantir que todas as vidas sejam reconhecidas como dignas é também salvar vidas.
Responsabilidade Coletiva
Falar sobre suicídio, portanto, não é apenas um chamado ao indivíduo em sofrimento, mas à sociedade como um todo. O cuidado precisa deixar de ser visto como uma tarefa exclusiva da esfera privada e se tornar uma responsabilidade compartilhada. Isso significa que famílias, comunidades, escolas, empresas e, principalmente, o Estado precisam assumir o compromisso de criar redes de apoio sólidas.
O desafio é romper com a lógica que individualiza a dor e culpabiliza quem sofre. Quando alguém decide tirar a própria vida, não se trata apenas de uma falha pessoal de resiliência, mas de um sintoma de que a sociedade falhou em garantir condições dignas de existência. Reconhecer isso é um ato de coragem política e ética.
Conclusão: Transformar palavras em Políticas
“Falar é só o começo” porque as palavras, embora necessárias, precisam se transformar em ações. O suicídio não é apenas um problema médico ou psicológico; é também um problema social, político e cultural. Uma sociedade que deseja prevenir o suicídio precisa ser capaz de oferecer não apenas escuta, mas esperança concreta: moradia, saúde, educação, dignidade, reconhecimento e pertencimento.
A verdadeira prevenção se constrói no encontro entre o cuidado individual e a transformação estrutural. É nesse ponto que a vida ganha sentido — não como uma promessa abstrata, mas como uma realidade possível. E só então poderemos afirmar, com verdade, que a vida vale a pena ser vivida.
📌 Nota de Rodapé: Se você ou alguém que você conhece está passando por sofrimento intenso, procure ajuda. O Centro de Valorização da Vida (CVV) atende gratuitamente pelo telefone 188 ou pelo site www.cvv.org.br, disponível 24 horas. Outros canais de apoio:
SAMU (192) – emergência em saúde.
CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) em sua região.
⚠️ Este conteúdo aborda temas sensíveis. Caso esteja em sofrimento, não hesite em procurar apoio.
Referências
ALMEIDA, Silvio. Racismo Estrutural. São Paulo: Pólen, 2019.
AMARANTE, Paulo. Loucos pela vida: a trajetória da reforma psiquiátrica no Brasil. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1995.
DURKHEIM, Émile. O Suicídio. São Paulo: Martins Fontes, 2000 [1897].
KLEINMAN, Arthur; DAS, Veena; LOCK, Margaret (orgs.). Social Suffering. Berkeley: University of California Press, 1997.
MBEMBE, Achille. Necropolítica. São Paulo: N-1 Edições, 2018.
MINAYO, Maria Cecília de Souza. O Desafio do Conhecimento: Pesquisa Qualitativa em Saúde. São Paulo: Hucitec, 1998.









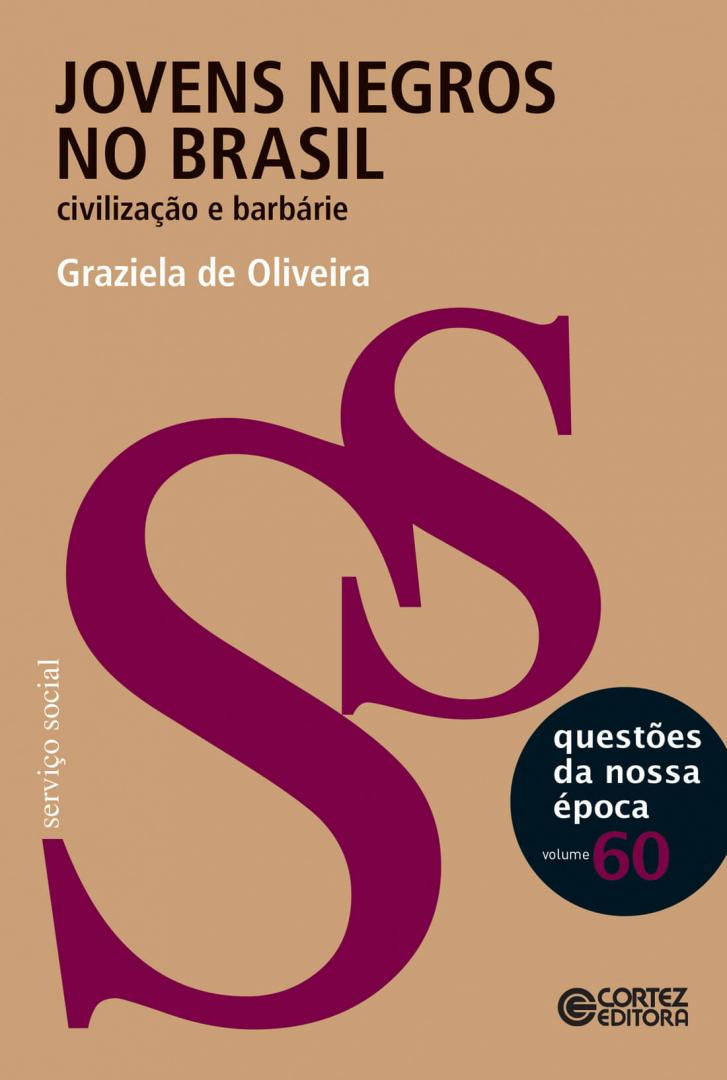
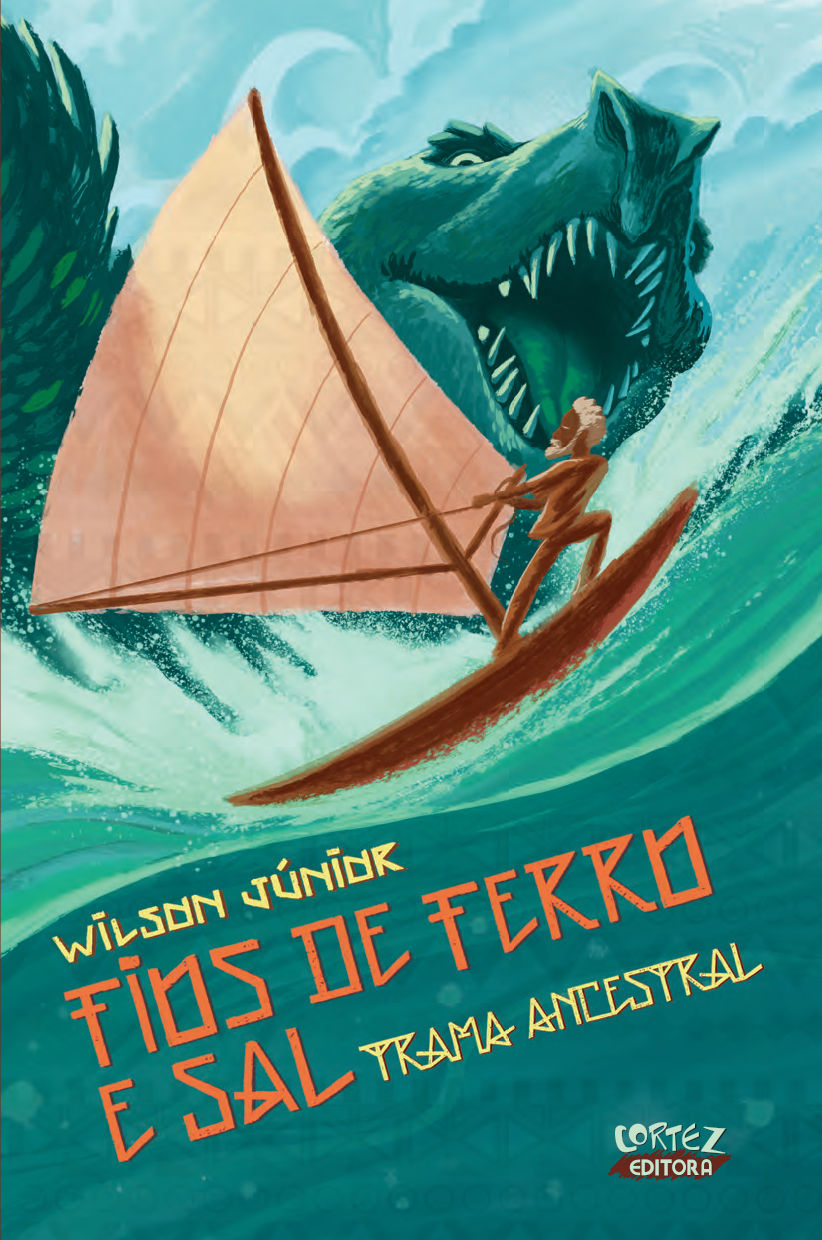









Comentários