Corpos que faltam: O desaparecimento forçado como ferida histórica no Brasil
- Helbson de Avila
- 30 de ago. de 2025
- 5 min de leitura

No dia 30 de agosto, a data instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) como o Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimentos Forçados, somos convocados a uma reflexão que ultrapassa o campo jurídico ou o registro da memória das ditaduras. No Brasil, essa data adquire contornos específicos e profundamente urgentes, sobretudo quando situada no horizonte simbólico do Agosto Negro, mês marcado por lutas históricas de resistência negra. Aqui, o desaparecimento forçado não pode ser reduzido apenas ao desaparecimento político de militantes durante o regime ditatorial. Ele se apresenta como uma ferida histórica constitutiva, um processo estrutural e contínuo de apagamento, de silenciamento e de exclusão, inscrito na formação social brasileira e reverberado em nosso presente. Trata-se da ausência que insiste em se impor como marca da violência, da dor que se expressa na falta, e do grito que foi silenciado em corpos e narrativas arrancados de sua plena existência (ALMEIDA, 2019).
O Desaparecimento Primordial: A Diáspora como Exílio e Abismo
A mais brutal e massiva forma de desaparecimento forçado da história não ocorreu em contextos modernos de repressão política, mas no tráfico transatlântico de africanos escravizados. A diáspora africana, fruto do sequestro sistemático de homens, mulheres e crianças, instaurou um processo de apagamento existencial e ontológico em escala planetária. Milhões foram arrancados de suas terras, de suas famílias, de seus sistemas culturais, espirituais e linguísticos. A escravidão transformou pessoas em mercadorias, despojando-as de seus nomes, de seus vínculos e de suas memórias (DAVIS, 2016).
Mais que um deslocamento forçado, a escravidão foi a instauração de um abismo ontológico: uma condição de não-ser, para usar os termos de Frantz Fanon (2008), em que corpos eram reduzidos a engrenagens da economia colonial. Este desaparecimento primordial não eliminava apenas vidas, mas toda a possibilidade de transmissão cultural intergeracional, deixando cicatrizes que ainda hoje reverberam na estrutura social brasileira. A diáspora, assim, foi um desaparecimento coletivo e civilizatório, cuja dimensão não pode ser mensurada apenas em números, mas em termos de ausências históricas, epistemológicas e espirituais (MBEMBE, 2014).
O apagamento como Política de Estado e como Imaginário Coletivo
Se a escravidão instaurou a ausência física e identitária, a política de embranquecimento do Brasil republicano buscou consolidar uma segunda forma de desaparecimento: a do simbólico e do cultural. A invisibilização da presença negra na narrativa nacional não ocorreu de maneira aleatória, mas como estratégia deliberada de poder (CARNEIRO, 2011).
Os livros didáticos, os cânones literários, as representações artísticas e a própria historiografia foram moldados para reforçar a ideia de que a contribuição negra era secundária ou inexistente. A exclusão de personagens históricos negros, a minimização de suas conquistas e a apropriação de suas criações culturais são exemplos de como se produziu uma memória seletiva (RIBEIRO, 2017). Assim, o Brasil construiu-se não apenas como uma nação escravista, mas também como uma nação que apaga, que fabrica ausências para sustentar um ideal de identidade nacional branca e eurocentrada (SCHWARCZ, 2019).
Esse apagamento sistemático, ao produzir uma “história que falta”, alimenta o racismo estrutural e legitima a desigualdade. Trata-se de um desaparecimento não apenas dos corpos, mas das narrativas, das possibilidades de pertencimento e do reconhecimento social (GOMES, 2017).
Necropolítica: A persistência do desaparecimento no presente
No Brasil contemporâneo, a lógica do desaparecimento assume novas formas. Inspirado no conceito de necropolítica, de Achille Mbembe (2018), é possível compreender como o Estado moderno administra a morte e a vida, decidindo quais corpos merecem viver e quais podem ser eliminados. Essa soberania sobre a vida se manifesta, de maneira mais brutal, na violência contra jovens negros das periferias urbanas. São corpos sistematicamente alvo da letalidade policial, de execuções sumárias e de desaparecimentos forçados que raramente são investigados. A cada jovem negro que desaparece, a ausência torna-se uma política de Estado: uma máquina de produzir morte e silenciamento (ALMEIDA, 2019).
Esses corpos que faltam — desaparecidos nos registros, nas estatísticas e na memória coletiva — são a tradução mais dolorosa da violência estrutural e da persistência da escravidão em novas roupagens. Eles representam a continuidade de um padrão histórico de desumanização que se renova no presente (FANON, 2010).
Fazer Memória para Reexistir: A luta por uma presença plena
Frente a esse cenário, fazer memória não é apenas recordar fatos passados; é um ato político de resistência e reexistência. Recordar as vítimas da diáspora, do apagamento cultural e da necropolítica é reconstruir identidades roubadas, é preencher os vazios deixados pelas ausências forçadas. A memória, neste sentido, atua como contra-narrativa: um dispositivo que restitui vozes, reivindica lugares de pertencimento e desestabiliza a ordem que insiste em produzir desaparecimentos (SANTOS, 2016). Lutar pela memória das vítimas é lutar pelo direito à história, pelo reconhecimento da dignidade negada e pela construção de um futuro em que nenhuma vida seja considerada descartável.
Nesse horizonte, o combate ao desaparecimento forçado — em todas as suas dimensões — deve ser compreendido como parte integrante da luta antirracista e pela justiça social. Relembrar é também reexistir: transformar ausência em presença, silêncio em palavra e dor em potência coletiva de emancipação (DAVIS, 2016; GOMES, 2017).
Referências
ALMEIDA, Silvio. Racismo estrutural. São Paulo: Pólen, 2019.
CARNEIRO, Sueli. Racismo, sexismo e desigualdade no Brasil. São Paulo: Selo Negro, 2011.
DAVIS, Angela. Mulheres, raça e classe. Tradução de Heci Regina Candiani. São Paulo: Boitempo, 2016.
FANON, Frantz. Pele negra, máscaras brancas. Tradução de Renato da Silveira. Salvador: EDUFBA, 2008.
FANON, Frantz. Os condenados da terra. Tradução de Enilce Albergaria Rocha e Lucy Magalhães. Juiz de Fora: EdUFJF, 2010.
GOMES, Nilma Lino. Movimento negro educador: saberes construídos nas lutas por emancipação. Petrópolis: Vozes, 2017.
MBEMBE, Achille. Necropolítica. Tradução de Renata Santini. São Paulo: n-1 edições, 2018.
MBEMBE, Achille. Crítica da razão negra. Tradução de Marta Lança. Lisboa: Antígona, 2014.
RIBEIRO, Djamila. O que é lugar de fala? Belo Horizonte: Letramento, 2017.
ROLNIK, Raquel. Territórios em conflito: São Paulo, espaço, história e política. São Paulo: Três Estrelas, 2017.
SANTOS, Boaventura de Sousa. A difícil democracia: reinventar as esquerdas. São Paulo: Boitempo, 2016.
SCHWARCZ, Lilia Moritz. Sobre o autoritarismo brasileiro. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.
hooks, bell. Enegrecendo: O feminismo negro e a luta por emancipação. Tradução de Luiza de Mello e Silva. São Paulo: Editora Elefante, 2020.
QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. Tradução de Luiz Fernando de Carvalho. Rio de Janeiro: Editora da UERJ, 2000.
QUIJANO, Aníbal. Dominação, colonialidade e violência na América Latina. Tradução de Ana Claudia de Souza Ribeiro. São Paulo: Boitempo, 2019.
QUIJANO, Aníbal. A questão nacional na América Latina. Tradução de Luiz Fernando de Carvalho. São Paulo: Editora da UERJ, 2005.
RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: A formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
SOUZA, Jessé. A elite do atraso: da escravidão à Lava Jato. Rio de Janeiro: Leya, 2017.









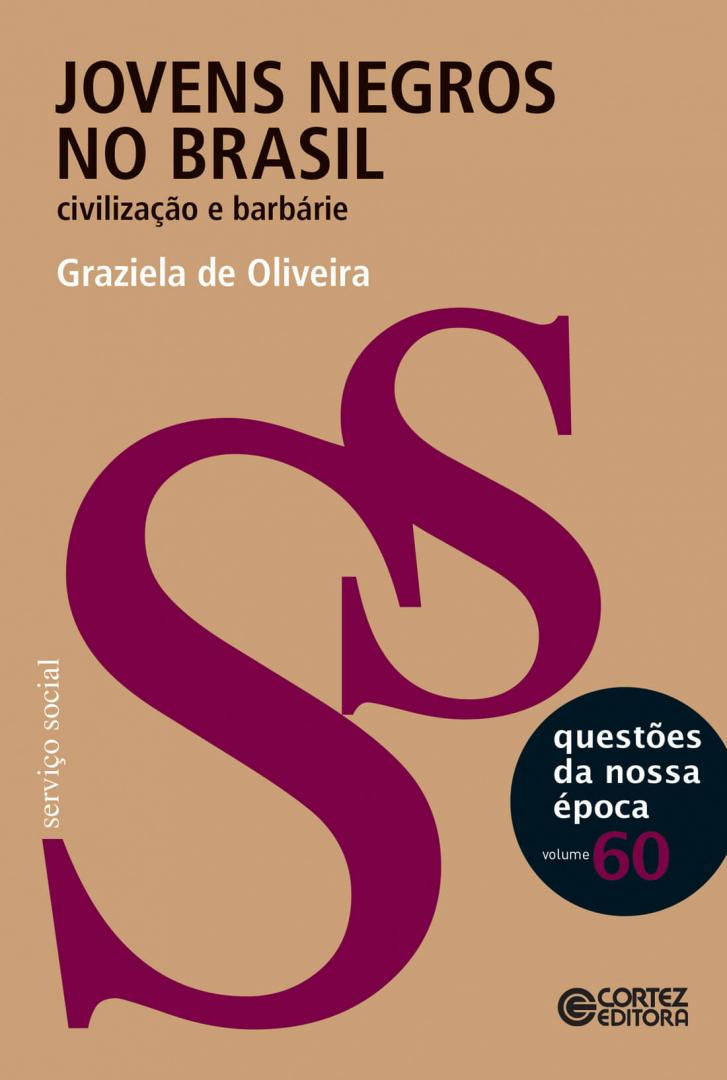
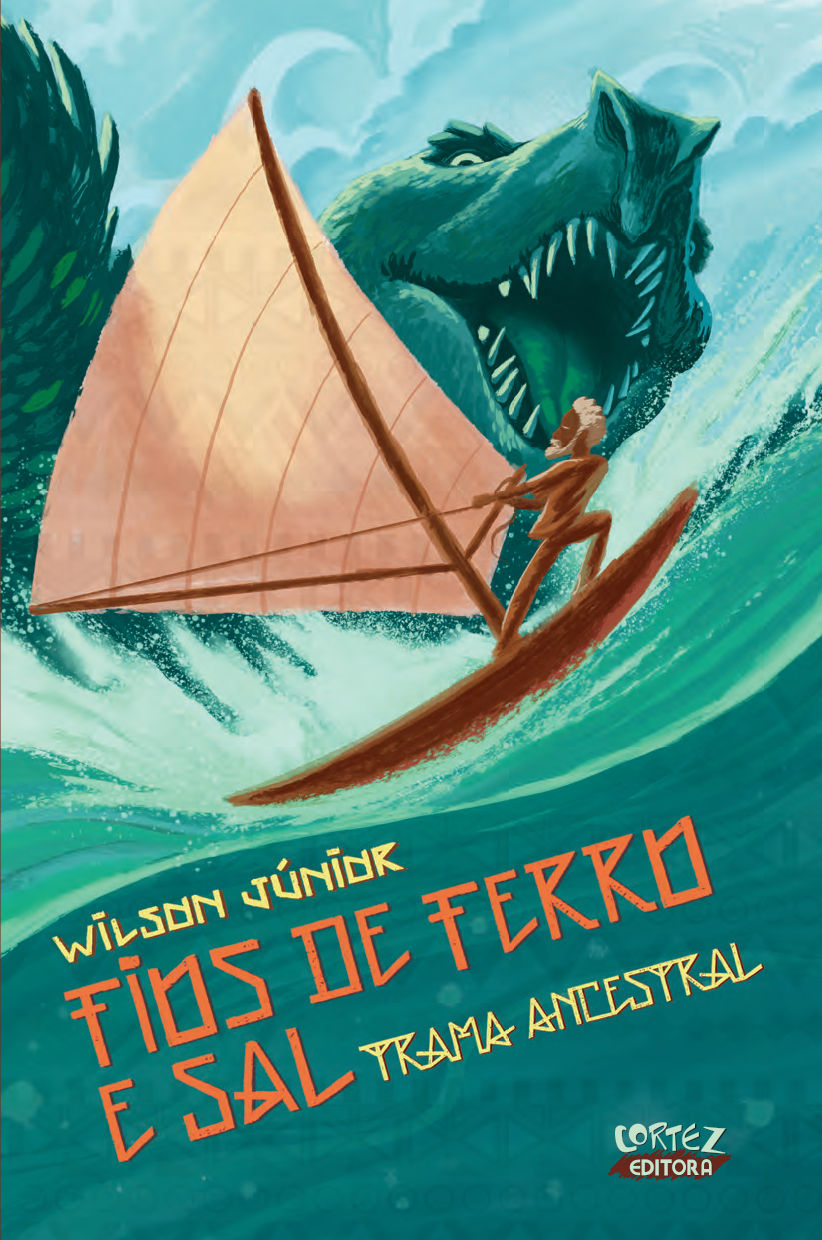









Comentários