Escola Cívico-Militar e as Racialidades: inconsistência político-pedagógica, violência simbólica e a indução à abnegação do Ser Negro no Projeto de Nação Contemporâneo
- Helbson de Avila
- 15 de abr. de 2025
- 6 min de leitura

No turbulento cenário das disputas contemporâneas em torno da educação pública no Brasil, o modelo de escolas cívico-militares emerge com a promessa de restaurar a "ordem", a "disciplina" e o "civismo" em ambientes escolares percebidos como caóticos. Contudo, sob este verniz de eficiência gerencial e retórica patriótica, oculta-se um projeto político e pedagógico que, longe de ser neutro, opera como um potente dispositivo de reprodução e intensificação de mecanismos de exclusão e controle racial. Como nos alerta Frantz Fanon (2008) em sua análise seminal sobre os efeitos psicossociais do colonialismo, sujeitos racializados são submetidos a uma tensão dilacerante entre o desejo de reconhecimento e pertencimento a uma sociedade que os rejeita estruturalmente, e a dolorosa necessidade de mascarar ou negar a própria identidade para sobreviver. Ao transpor essa lente fanoniana para a análise das escolas cívico-militares, podemos desvelar como seu aparato disciplinador, focado na hierarquia, na uniformidade e na obediência, se estrutura como uma sofisticada tecnologia de poder racializante. Este ensaio argumenta que tal modelo exibe uma profunda inconsistência político-pedagógica, manifesta na violência simbólica que exerce e na indução à abnegação do ser negro, funcionando, em última instância, como um braço educativo de um projeto de nação conservador que rejeita a pluralidade e, em certo sentido, pratica uma forma de necropolítica educativa (Mbembe, 2011), decidindo quais vidas, corpos e saberes são dignos de afirmação e quais devem ser silenciados ou conformados para existir dentro de seus muros.
Militarização da educação como Tecnologia Racial do Estado
A implementação de escolas cívico-militares não pode ser compreendida como um fenômeno isolado ou meramente administrativo. Ela se inscreve em uma tendência mais ampla de expansão do paradigma securitário e punitivista do Estado brasileiro, que permeia diversas esferas da vida social. A presença ostensiva de militares (da reserva ou da ativa) na gestão cotidiana da escola, atuando no controle disciplinar e na imposição de normas de conduta, age como uma extensão do aparato repressivo estatal, historicamente direcionado com maior intensidade aos corpos negros, indígenas e periféricos. Conforme argumenta Silva (2020), o Estado contemporâneo frequentemente desloca sua função primordial de garantia de direitos e proteção social para uma atuação focada na vigilância, no controle e na contenção dos "indesejáveis" ou dos "corpos racializados desviantes". Nesse sentido, a militarização do ambiente escolar transforma a escola, espaço que deveria ser de acolhimento, diálogo e formação crítica, em um dispositivo de controle territorial e comportamental, onde a lógica da segurança se sobrepõe à lógica pedagógica. Configura-se, assim, um espaço que pode se assemelhar mais a um quartel ou a um dispositivo pré-carcerário do que a um ambiente propício ao desenvolvimento integral e à formação para uma cidadania plena e emancipada. A quem interessa essa forma de gestão que prioriza a ordem imposta sobre o aprendizado dialógico? Que subjetividades ela busca formar ou, mais precisamente, deformar para adequá-las a um padrão específico? Fica evidente que não se trata apenas de "melhorar a gestão", mas de exercer controle – controle racial, controle territorial, controle sobre os corpos e, fundamentalmente, controle epistemológico sobre o que pode ser dito, pensado e vivido na escola.
A Pedagogia do Controle, a Violência Simbólica e a Negação da Identidade
No cerne da prática pedagógica das escolas cívico-militares reside uma ênfase desmedida na uniformidade, na hierarquia rígida e na obediência inquestionável. Esses pilares, apresentados sob a justificativa de promover a disciplina e o respeito, operam na prática como mecanismos de profunda violência simbólica, nos termos definidos por Pierre Bourdieu (1998). A violência simbólica se caracteriza por ser uma forma de dominação que se exerce com o consentimento (muitas vezes inconsciente) dos dominados, por meio da imposição de padrões culturais, estéticos e comportamentais do grupo dominante como se fossem universais, neutros e legítimos. No contexto escolar cívico-militar, as normas sobre o corte de cabelo (frequentemente proibindo ou estigmatizando penteados afro), o uso de fardas idênticas que apagam individualidades, as restrições a formas de expressão cultural e linguística consideradas "inadequadas" (muitas vezes associadas a culturas populares, negras e periféricas) e a própria estrutura hierárquica que desencoraja o questionamento, tudo isso constitui a aplicação dessa violência. O padrão imposto é, invariavelmente, o padrão branco, masculino, heteronormativo e de classe média/alta. Como adverte bell hooks (1994), essa "pedagogia do controle", que prioriza a ordem e a conformidade sobre a liberdade e a transgressão criativa, em vez de libertar os estudantes para que pensem criticamente e se expressem autenticamente, aprisiona-os em moldes estreitos, especialmente aqueles cujas identidades e corpos destoam da norma hegemônica. A disciplina militarizada, portanto, não é neutra; ela é racializada e classista, atuando para moldar sujeitos dóceis e conformados a uma estrutura social desigual.
A Abnegação do Ser Negro como Performance de Sobrevivência
Nesse ambiente de intensa pressão por conformidade e de constante vigilância, a abnegação do ser negro emerge não apenas como uma consequência indesejada, mas como uma performance muitas vezes necessária para a sobrevivência subjetiva e social dentro da instituição. Compreendemos essa abnegação como um processo doloroso, fruto da violência simbólica internalizada, no qual sujeitos negros são compelidos – ou sentem-se compelidos – a silenciar, esconder, modificar ou mesmo rejeitar seus traços fenotípicos (como o cabelo natural), suas expressões culturais, sua história, sua linguagem e até mesmo suas formas de sociabilidade, para se adaptarem ao padrão branco exigido e, assim, evitarem punições, estigmas ou a exclusão. É a máscara branca sobre a pele negra de que falava Fanon, performada cotidianamente no espaço escolar. Essa "abnegação performática" torna-se uma estratégia para navegar em um território hostil, uma tentativa de obter reconhecimento ou, ao menos, invisibilidade protetora, dentro de um sistema que educa para o embranquecimento simbólico e cultural. Jovens negros aprendem que para serem considerados "bons alunos", "disciplinados" ou "integrados", precisam deixar partes fundamentais de si mesmos do lado de fora do portão da escola. A identidade negra é convertida em desvio a ser corrigido, e o silenciamento ou a imitação do padrão dominante são recompensados como virtudes. O custo psicológico dessa performance contínua é imenso, minando a autoestima, a saúde mental e o próprio direito à existência autêntica.
Conservadorismo, Projeto de Nação e a Rejeição da Pluralidade
A emergência recente e a defesa fervorosa das escolas cívico-militares no Brasil não ocorreram no vácuo. Elas estão intrinsecamente ligadas a um projeto político e cultural mais amplo, de caráter conservador e, por vezes, abertamente autoritário, que ganhou força na cena nacional. Esse projeto busca reabilitar valores tradicionais, reforçar hierarquias sociais (incluindo as raciais e de gênero), conter movimentos sociais e culturais vistos como "desestabilizadores" e reiterar o mito da democracia racial, negando ou minimizando a existência do racismo estrutural. A escola cívico-militar encaixa-se perfeitamente nessa lógica, funcionando como um laboratório para a formação de um tipo específico de subjetividade: o cidadão patriota, obediente, acrítico e conformado à ordem vigente. A figura idealizada do aluno é, implicitamente, a do homem (cis, hétero) branco, de classe média, cujos valores e estética são tidos como o padrão nacional. Todas as outras formas de ser e existir – negros, indígenas, LGBTQIA+, pessoas com deficiência, sujeitos de classes populares – são frequentemente vistas como ameaças a essa ordem homogênea e, portanto, precisam ser disciplinadas, controladas ou assimiladas à força. Nesse projeto, a escola deixa de ser um espaço de debate plural e construção de conhecimento crítico para se tornar uma trincheira ideológica contra as pedagogias libertadoras, os estudos de gênero, a educação para as relações étnico-raciais e qualquer abordagem que questione as estruturas de poder. A rejeição à pluralidade é, portanto, um componente central da atratividade desse modelo para certos setores políticos.
Conclusão: Pela reivindicação do Direito de Existir em Plenitude
Analisar as escolas cívico-militares sob a ótica das racialidades e da teoria crítica expõe a falácia de sua suposta neutralidade e eficiência. Evidencia-se uma profunda inconsistência político-pedagógica, onde um discurso de inclusão e melhoria educacional mascara práticas de controle racializado, violência simbólica e indução à abnegação do ser negro. Esse modelo, ao invés de promover uma cidadania plena, arrisca-se a formar sujeitos fragmentados, psicologicamente feridos pela necessidade de negar a si mesmos para serem aceitos. Rechaçar a abnegação como projeto educativo é, fundamentalmente, afirmar o direito à existência plena e digna de todos os estudantes, em toda a sua diversidade. Isso implica não apenas denunciar os dispositivos de silenciamento e violência presentes nas escolas militarizadas, mas, sobretudo, lutar por e fortalecer outros modos de educar: pedagogias libertadoras, plurais, insurgentes e radicalmente antirracistas. Experiências como as escolas quilombolas, os territórios etnoeducacionais indígenas, as pedagogias decoloniais e as práticas educativas inspiradas em pensadoras como Lélia Gonzalez (2020), Sueli Carneiro (2021) e Nilma Lino Gomes (2004) demonstram que é possível construir uma educação que afirme a diversidade, promova a equidade racial e forme sujeitos críticos e conscientes de seu poder de transformação. A escola brasileira, para cumprir seu papel democrático, precisa ser um território de vida, de encontro, de celebração da diferença e de construção de futuros mais justos – e não uma trincheira de controle, silenciamento e negação.
Referências Sugeridas
BOURDIEU, Pierre. A Dominação Masculina. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998.
CARNEIRO, Sueli. Escritos de uma vida. São Paulo: Pólen, 2021. (Ou Enegrecer o Feminismo)
FANON, Frantz. Pele Negra, Máscaras Brancas. Salvador: EDUFBA, 2008.
GOMES, Nilma Lino. O Movimento Negro Educador: Saberes construídos 1 nas lutas por emancipação. Petrópolis: 2 Vozes, 2017.
GONZALEZ, Lélia. Por um Feminismo Afro-latino-americano. Rio de Janeiro: Zahar, 2020.
HOOKS, bell. Ensinando a Transgredir: A Educação como Prática da Liberdade. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2013.
MBEMBE, Achille. Necropolítica. São Paulo: n-1 edições, 2018 (ou 2011).
SILVA, Petronilha Beatriz Gonçalves e. Educação para as Relações Étnico-Raciais. In: MUNANGA, Kabengele (Org.). Superando o Racismo na Escola. Brasília: MEC/SECAD, 2005.









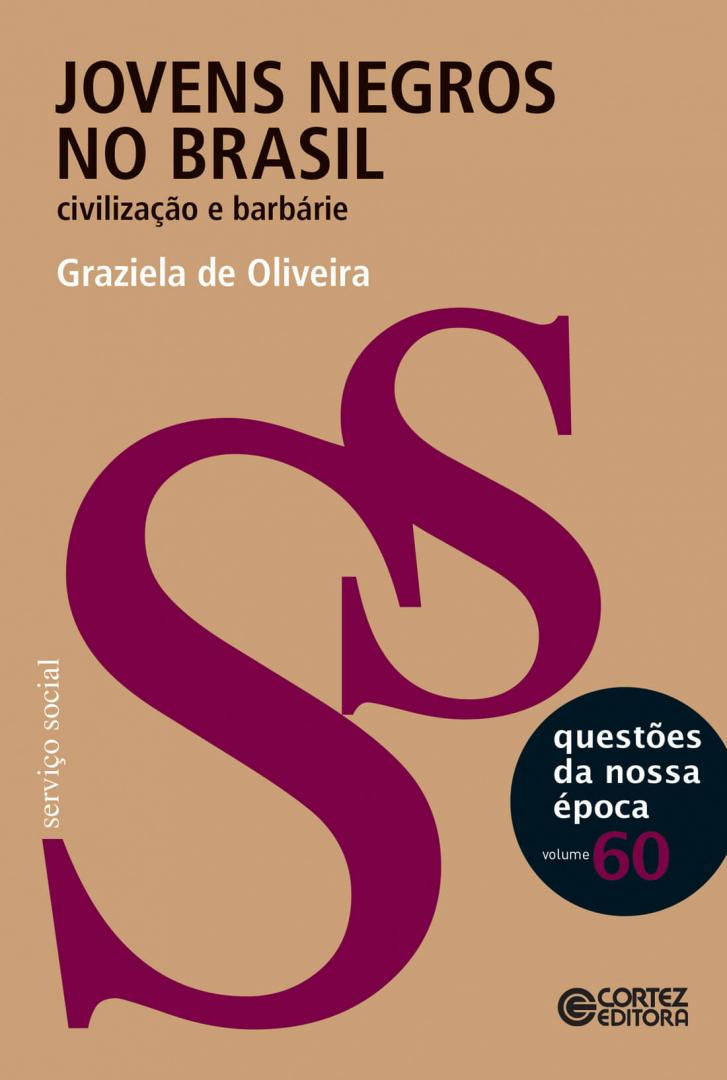
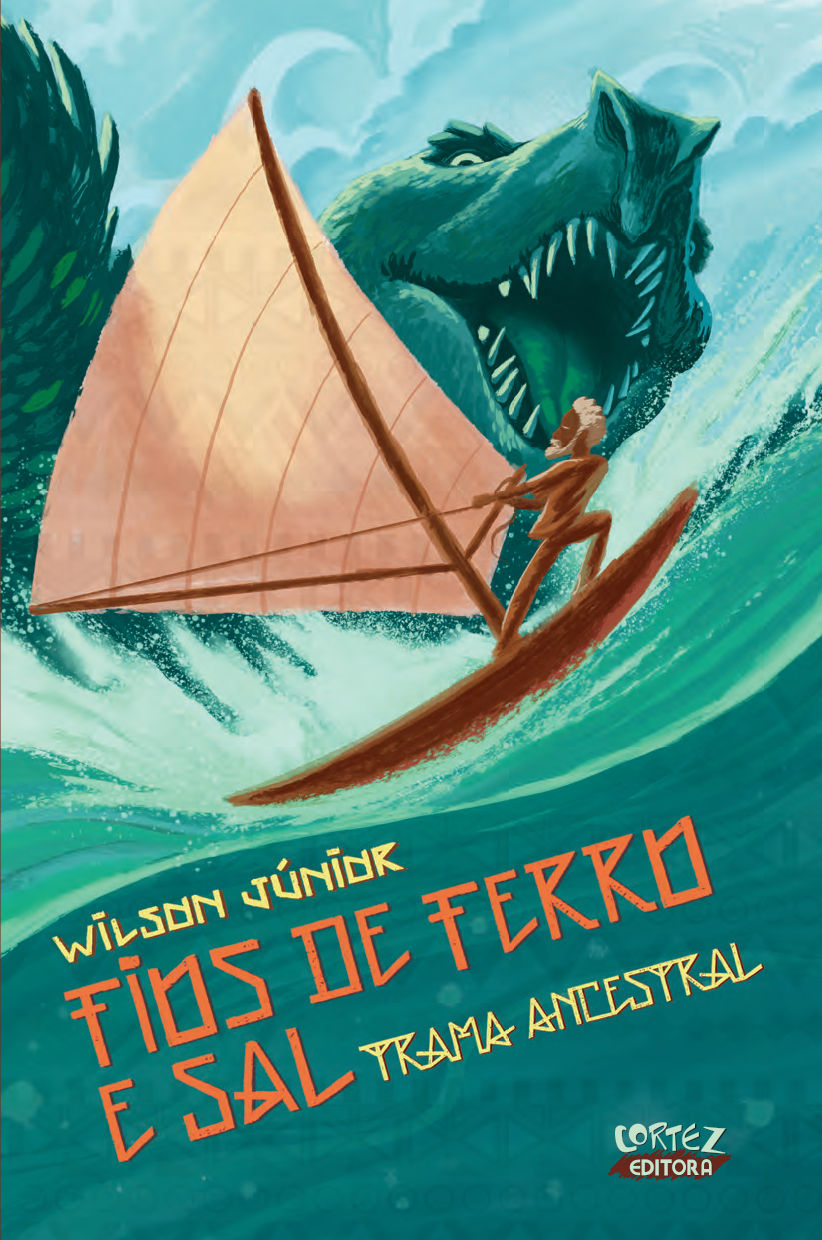









Comentários