Democracia pela metade: A urgência da representatividade Negra na Política
- Helbson de Avila
- 14 de set. de 2025
- 4 min de leitura

A democracia, em seu mais puro ideal, é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Essa formulação, consagrada por Abraham Lincoln no século XIX, sustenta-se na promessa de que a voz de cada cidadão ecoa de forma igualitária nos espaços de poder. No entanto, ao observar a realidade brasileira, essa idealização se desfaz diante de um paradoxo estrutural: embora a população negra constitua 56% do total demográfico, sua presença em cadeiras do Congresso Nacional e em outros cargos eletivos mal alcança 25%. Essa discrepância não é um acidente histórico ou uma mera falha representativa, mas um sintoma da incompletude da democracia brasileira, que, como argumenta Lélia Gonzalez (1988), se constituiu a partir de um projeto excludente, onde a população negra foi historicamente relegada à marginalidade social, econômica e política.
A ausência de representatividade negra nos espaços decisórios é resultado direto da persistência do racismo estrutural, conceito central desenvolvido por autores como Silvio Almeida (2019), que o define como a lógica sistêmica e institucional que organiza as relações sociais, distribuindo privilégios e desvantagens com base na raça. Esse racismo se materializa não apenas no cotidiano das interações sociais, mas também no funcionamento do sistema político, que ergue barreiras sólidas à inclusão. Como ressalta Pierre Bourdieu (1989), a política é também um espaço de disputa de capitais simbólicos e materiais, no qual os grupos dominantes preservam seus privilégios por meio de mecanismos de exclusão, ainda que não explicitamente formalizados.
Essas barreiras começam antes mesmo do exercício do voto. Candidaturas negras, em média, recebem menos recursos de financiamento de campanha, tanto públicos quanto privados, revelando a reprodução de desigualdades materiais na esfera eleitoral. A alocação de tempo em rádio e televisão, que deveria ser instrumento democrático de visibilidade, segue a mesma lógica, priorizando candidatos brancos com redes consolidadas de poder. Aqui, vale retomar a reflexão de Nancy Fraser (1997) sobre justiça distributiva e justiça de reconhecimento: não basta distribuir recursos formalmente de maneira igualitária, é preciso reconhecer as desigualdades históricas e culturais que estruturam as oportunidades de acesso.
Essa desigualdade estrutural não deriva da ausência de lideranças negras qualificadas, mas da manutenção de um pacto racializado de poder, que perpetua o que o sociólogo estadunidense Charles Mills (1997) chamou de contrato racial: um arranjo tácito em que as elites brancas definem quem tem direito de participar plenamente da cidadania. Nesse sentido, a democracia brasileira, ao excluir sistematicamente a maioria negra dos espaços decisórios, não apenas se torna "pela metade", mas revela seu caráter seletivo, cuja universalidade é, na prática, restrita.
As consequências dessa falta de representatividade ultrapassam a dimensão simbólica. Como mostram estudos de Daron Acemoglu e James Robinson (2012), sociedades mais inclusivas são capazes de produzir instituições políticas e econômicas mais justas e duradouras. No caso brasileiro, a ausência de parlamentares negros impacta diretamente a formulação de políticas públicas em áreas cruciais: combate à violência policial, saúde materna da população negra, equidade educacional e promoção de direitos culturais. Sem vozes negras nos processos deliberativos, as políticas refletem apenas parte da realidade social, resultando em uma produção normativa distante das necessidades concretas da maioria da população.
É nesse ponto que se torna indispensável a ação afirmativa do Estado. A política de cotas raciais, tanto no ensino superior quanto na distribuição de recursos eleitorais, deve ser compreendida não como concessão, mas como instrumento de justiça histórica e correção de distorções sistêmicas, conforme já defendido por autores como Kabengele Munanga (2005). O monitoramento de dados comprova: onde essas políticas são aplicadas, há aumento da presença negra e diversificação da agenda política. A experiência de mulheres negras, como Benedita da Silva e Marielle Franco, exemplifica como a entrada de corpos historicamente marginalizados no Parlamento reconfigura a pauta política, inserindo demandas antes invisibilizadas.
A construção de uma democracia plena exige, portanto, o alinhamento entre a representatividade institucional e a diversidade social. Nesse processo, iniciativas como o Sistema Integrado de Monitoramento da Igualdade Racial (SIMIR) desempenham papel estratégico ao transformar estatísticas em ferramentas de incidência política. Como nos lembra Boaventura de Sousa Santos (2002), sem dados que revelem as ausências e as desigualdades, não há possibilidade de construir uma sociologia das emergências que dê visibilidade às vozes silenciadas.
A ausência de representatividade negra é um defeito estrutural que fragiliza as bases da democracia brasileira. Enfrentá-lo exige vontade política, coragem institucional e, sobretudo, a convicção de que a justiça social só se efetivará quando todos os cidadãos, independentemente da cor da pele, tiverem voz e poder para moldar o destino da nação. A representatividade negra, longe de ser uma questão setorial, é o coração de uma democracia substantiva — aquela que não apenas proclama direitos universais, mas os concretiza em práticas de igualdade efetiva.
Perfeito! Seguindo as normas da ABNT (NBR 6023/2018), aqui está a lista de referências com base nos autores que aparecem no texto ampliado:
Referências
ACEMOGLU, Daron; ROBINSON, James. Por que as nações fracassam: as origens do poder, da prosperidade e da pobreza. Tradução Cristiana Serra. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
ALMEIDA, Silvio. Racismo estrutural. São Paulo: Pólen, 2019.
BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Tradução Fernando Tomaz. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989.
FRASER, Nancy. Justice interruptus: critical reflections on the "postsocialist" condition. New York: Routledge, 1997.
GONZALEZ, Lélia. A categoria político-cultural de amefricanidade. In: GONZALEZ, Lélia. Por um feminismo afro-latino-americano: ensaios, intervenções e diálogos. Organização Flávia Rios; Márcia Lima. Rio de Janeiro: Zahar, 2020. p. 135-146. [Texto originalmente de 1988].
LINCOLN, Abraham. The Gettysburg Address. Gettysburg, 1863. Disponível em: https://www.abrahamlincolnonline.org/lincoln/speeches/gettysburg.htm. Acesso em: 14 set. 2025.
MILLS, Charles W. The racial contract. Ithaca: Cornell University Press, 1997.
MUNANGA, Kabengele. Políticas de ação afirmativa em benefício da população negra no Brasil: um ponto de vista em defesa de cotas. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, n. 117, p. 67-81, nov. 2002.
SANTOS, Boaventura de Sousa. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência. São Paulo: Cortez, 2002.









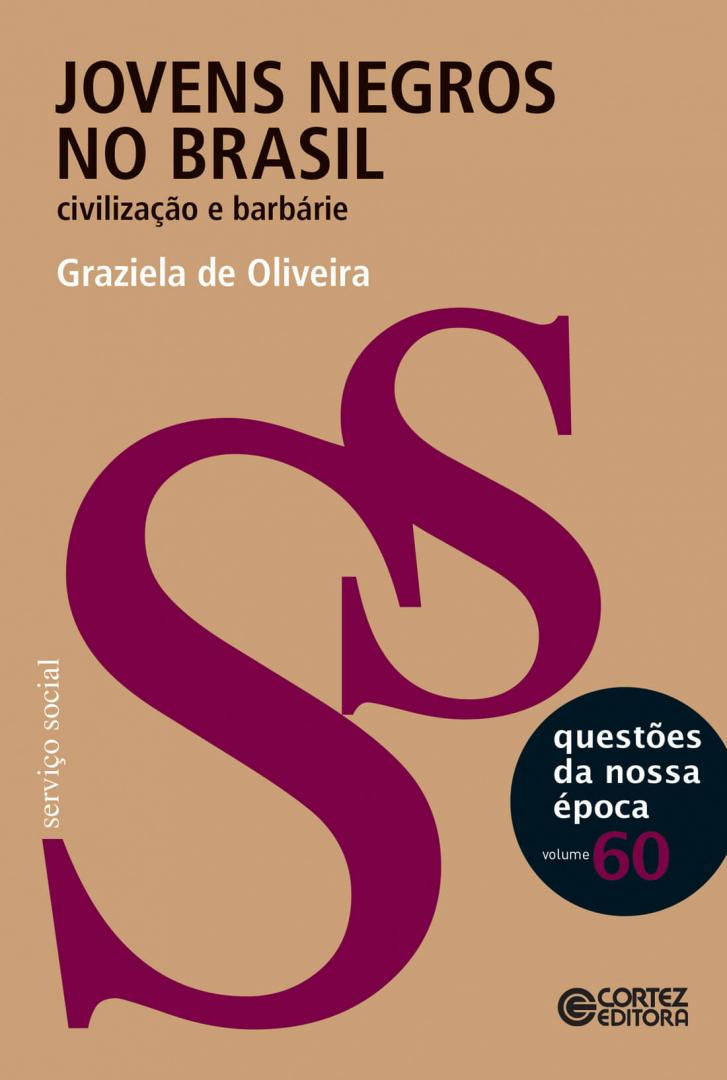
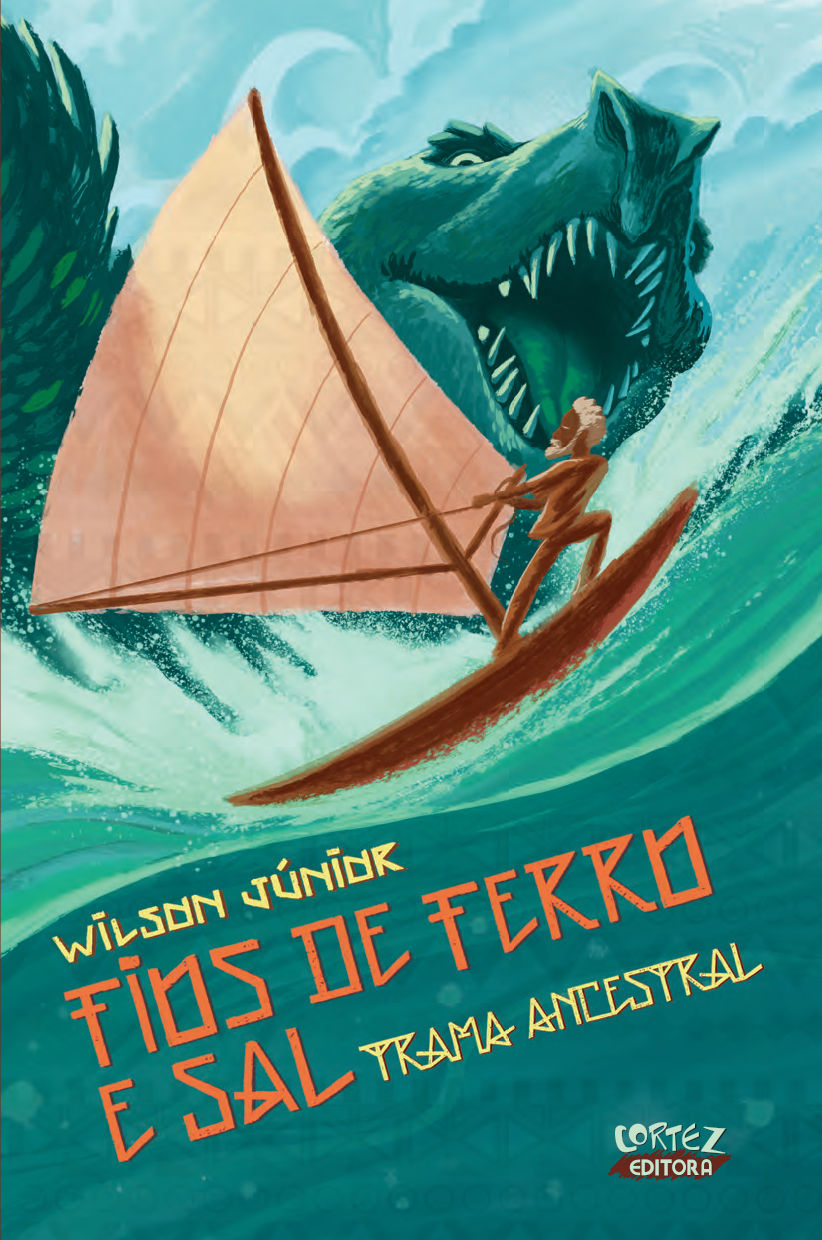









Comentários