O Carnaval Brasileiro: uma etnografia crítica da racialização em festa
- Helbson de Avila
- 28 de fev. de 2025
- 4 min de leitura

O Carnaval brasileiro, essa manifestação cultural exuberante e multifacetada, transcende a mera celebração festiva, revelando-se um microcosmo social onde as complexas dinâmicas de poder e identidade se entrelaçam. Sob o prisma de uma etnografia crítica, este ensaio busca desvelar as intrincadas relações entre a indústria econômica e a indústria cultural do Carnaval, explorando como as racialidades são produzidas, reproduzidas e contestadas nesse palco de efervescência popular.
A permanência da Colonialidade do poder na folia
A festa carnavalesca, por mais democrática e inclusiva que aparente ser, carrega em suas entranhas as marcas indeléveis da colonialidade do poder, conceito cunhado por Aníbal Quijano (2000). A herança escravocrata se manifesta na hierarquização racial que estrutura a organização do Carnaval, desde os bastidores da produção até os desfiles apoteóticos. A indústria econômica, ávida por lucros, mercantiliza a cultura afro-brasileira, explorando a força de trabalho negra e perpetuando estereótipos que remetem ao período da escravidão.
Lélia Gonzalez (1988), com sua perspicácia analítica, nos legou a "categoria político-cultural de amefricanidade", que evidencia a permanência das marcas da colonização na cultura brasileira. No Carnaval, essa amefricanidade se expressa na resistência e na afirmação da identidade negra, mas também na apropriação e na exploração da cultura afro-brasileira pela indústria do entretenimento.
A Interseccionalidade dos corpos racializados no Carnaval
A análise interseccional, proposta por Kimberlé Crenshaw (1989), ilumina as múltiplas formas de opressão que se cruzam no espaço carnavalesco. As mulheres negras, em particular, vivenciam a festa de modo singular, sofrendo com a hipersexualização de seus corpos e a objetificação de sua imagem. Ao mesmo tempo, elas protagonizam performances de resistência, utilizando a dança, o canto e a performance como instrumentos de empoderamento e afirmação de sua identidade.
O corpo negro feminino, historicamente marginalizado e explorado, torna-se no Carnaval um campo de batalha simbólico, onde se confrontam representações estereotipadas e performances de resistência. A dança, por exemplo, transcende a mera expressão estética, transformando-se em uma linguagem corporal que articula identidades e desafia os padrões estéticos dominantes.
A Indústria Cultural em disputa: entre a resistência e a apropriação
A indústria cultural do Carnaval, sob a ótica da Escola de Frankfurt (Adorno & Horkheimer, 1985), oscila entre a reprodução de estereótipos e a produção de narrativas contra-hegemônicas. As escolas de samba e os blocos afro, espaços de efervescência cultural negra, utilizam seus enredos e letras de música para denunciar o racismo, celebrar a história e a cultura afro-brasileira e reivindicar direitos.
No entanto, a lógica da mercantilização, como argumenta Stuart Hall (1997), leva à apropriação de elementos culturais negros pela indústria do entretenimento, descontextualizando-os e esvaziando seu potencial crítico. A transformação do Carnaval em um produto de consumo de massa, voltado para o turismo e o entretenimento, implica na homogeneização das manifestações culturais e na perda da sua autenticidade.
O Carnaval como ritual de inversão: ambivalências e contradições
A teoria do ritual de Victor Turner (1967) permite analisar o Carnaval como um momento de "communitas", onde as hierarquias sociais são temporariamente suspensas, abrindo espaço para a celebração da diversidade e a crítica social. No entanto, essa inversão é ambivalente, pois a lógica do mercado e o racismo estrutural persistem, revelando as contradições da democracia racial brasileira.
O Carnaval, ao mesmo tempo em que oferece um espaço de expressão e liberdade, reproduz as desigualdades e os preconceitos que marcam a sociedade brasileira. A fantasia, a máscara e a performance permitem que os foliões experimentem identidades e papéis sociais distintos, mas essa experiência é efêmera e não altera as estruturas de poder que regem a vida cotidiana.
A performance da Identidade: corpo, dança e resistência
A performance, como conceito central nos estudos culturais, torna-se uma ferramenta analítica fundamental para compreender a expressão das racialidades no Carnaval. A dança, o figurino, a música e a encenação se transformam em linguagens corporais que articulam identidades e resistências. Ao dançar o samba, o frevo, o axé ou o maracatu, os corpos racializados desafiam os padrões estéticos dominantes e afirmam sua presença e poder na festa.
Paul Gilroy (1993), em sua obra seminal "O Atlântico Negro", nos lembra que a cultura negra transcende as fronteiras nacionais, conectando os povos da diáspora africana através de uma rede de trocas culturais e afetivas. No Carnaval, essa conexão se manifesta na celebração das raízes africanas e na valorização da diversidade cultural brasileira.
Considerações finais
A etnografia crítica do Carnaval, ao lançar luz sobre as tensões e contradições que permeiam a festa, convida-nos a refletir sobre o papel da cultura na construção da identidade brasileira e na luta por uma sociedade mais justa e igualitária. Longe de ser um mero espetáculo de entretenimento, o Carnaval se revela um campo de disputa simbólica, onde se confrontam diferentes projetos de Brasil.
A análise das racialidades no Carnaval exige uma abordagem interdisciplinar, que dialogue com a sociologia, a antropologia, a história, os estudos culturais e os estudos de gênero. Ao combinar diferentes perspectivas teóricas, podemos aprofundar nossa compreensão sobre as complexas relações entre raça, cultura e poder na sociedade brasileira.
Bibliografia:
Adorno, T. W., & Horkheimer, M. (1985). Dialética do esclarecimento: fragmentos filosóficos. Jorge Zahar.
Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the intersection between race and sex: A Black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. University of Chicago Legal Forum, 1989(1), 139-167.
Gilroy, P. (1993). O Atlântico negro: modernidade e dupla consciência. Editora 34.
Gonzalez, L. (1988). A categoria político-cultural de amefricanidade. Tempo brasileiro, (92/93), 69-82.
Hall, S. (1997). A identidade cultural na pós-modernidade. DP&A editora.
Quijano, A. (2000). Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. In: LANDER, Edgardo (org.). A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2000. p. 117-142.
Turner, V. (1967). The forest of symbols: Aspects of Ndembu ritual. Cornell University Press.









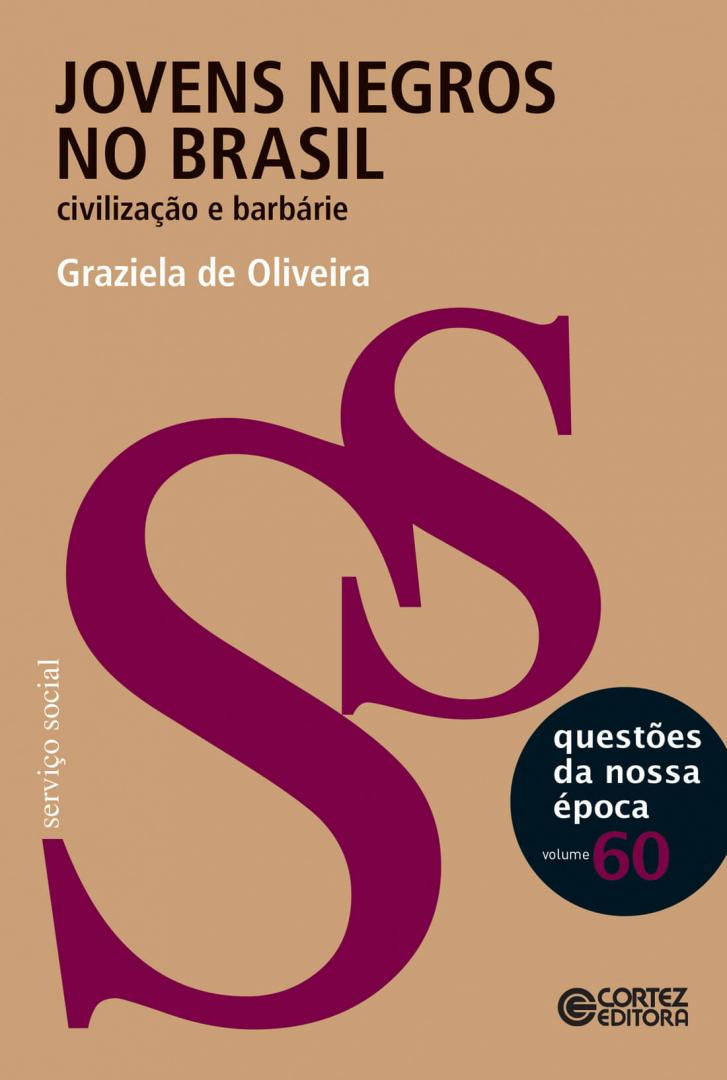
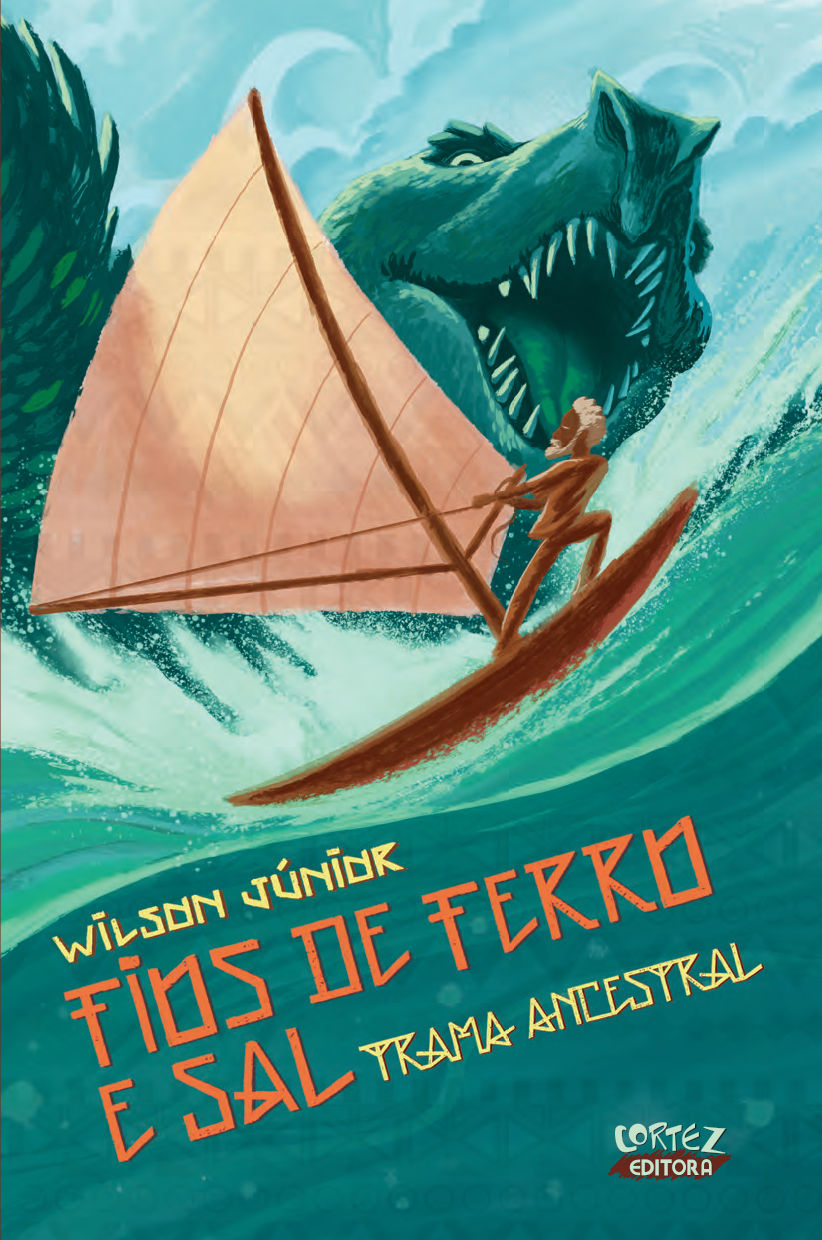









Comentários