Por que os Direitos Humanos ainda são uma Utopia (e por que devemos Lutar por Eles)
- Helbson de Avila
- 10 de dez. de 2025
- 4 min de leitura

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada em 10 de dezembro de 1948, nasceu como um gesto civilizatório diante da barbárie. Era, ao mesmo tempo, o testemunho do horror que a humanidade fora capaz de produzir e a promessa de que nunca mais aceitaria conviver com ele. Contudo, mais de sete décadas depois, é impossível não reconhecer que aquela promessa, embora luminosa, permanece em estado de suspensão. Entre o ideal inscrito nos 30 artigos da Declaração e a realidade concreta vivida por populações racializadas, periféricas e vulnerabilizadas — especialmente no Brasil — abre-se um abismo que não é mero acidente histórico, mas resultado de uma arquitetura política que administra a vida e produz a morte.
1. A herança universalista e o limite da promessa humanista
O humanismo jurídico do pós-guerra acreditava que bastava nomear direitos para que eles existissem. A palavra teria poder performativo capaz de instaurar, por si só, um novo horizonte civilizacional. Hannah Arendt, lendo os deslocamentos forçados e a figura do apátrida, já advertia: os direitos humanos são frágeis quando não são garantidos por uma comunidade política disposta a defendê-los. “O direito a ter direitos” — sua formulação célebre — apontava para uma tensão que ainda nos atravessa: direitos só são universais se forem igualmente reivindicáveis e igualmente protegidos. Não é o caso.
Mesmo a própria Declaração de 1948 emerge de um mundo profundamente assimétrico. Impérios coloniais ainda vigoravam; a segregação racial nos Estados Unidos era lei; e, no Brasil, a fábula da democracia racial mascarava mecanismos robustos de exclusão. A universalidade, desde o início, esteve impregnada por uma epistemologia branca, europeia e masculina — um universal que se toma por neutro, apagando as violências que o fundam. É justamente este terreno que a Revista Amefricana pretende tensionar: pensar os direitos não a partir do universal abstrato, mas da experiência concreta dos povos que historicamente lutaram para serem reconhecidos como humanos.
2. Do biopoder à necropolítica: quando o Estado decide quem pode viver
Se Foucault apontou o biopoder como a lógica moderna de gestão da vida, Achille Mbembe atualizou o diagnóstico ao nomear o que muitos países do Sul Global experienciam: a necropolítica — o governo pela morte. Nessa lógica, o Estado não apenas administra a vida; ele decide, de maneira ativa, quem pode morrer, quem pode matar e quais vidas são descartáveis.
Poucos contextos ilustram esse paradigma com tanta nitidez quanto o Brasil contemporâneo. Aqui, a distância entre o texto da Declaração e a realidade é medida em corpos negros, indígenas, favelizados, encarcerados, deportados ou silenciados. O direito à vida, proclamado como inviolável no Artigo 3º, é rotineiramente violado pelo próprio Estado que deveria garanti-lo. O direito ao trabalho, à moradia, à saúde e à proteção contra tortura e discriminação torna-se letra morta em territórios onde a precariedade é normalizada.
A necropolítica brasileira opera de maneira racializada: não se trata apenas de matar, mas de permitir morrer; não se trata apenas de violência direta, mas de abandono programado. Como lembra Sueli Carneiro, vivemos sob a vigência de um “humanismo amputado”, onde a plenitude da humanidade é distribuída de forma desigual.
3. Direitos que não chegam ao chão: a contradição brasileira
Nenhum país assinou tantos compromissos internacionais de direitos humanos quanto o Brasil. Somos signatários de tratados, pactos, convenções e recomendações. Fizemos do vocabulário dos direitos uma espécie de gramática estatal. Contudo, como bem demonstra a literatura crítica brasileira — de Abdias Nascimento a Lélia Gonzalez, de Silvio Almeida a Déborah Duprat — a distância entre norma e prática não é incapacidade: é projeto.
Três tensões estruturam essa contradição:
a) A colonialidade do poder
A lógica racial fundante da sociedade brasileira continua informando as instituições. O Estado opera com hierarquias herdadas do período escravocrata, que se atualizam na seletividade penal, na distribuição desigual da violência e no racismo institucional.
b) A moralização da desigualdade
Direitos, no Brasil, são frequentemente narrados como privilégios. O discurso reacionário insiste que defendê-los é defender “bandidos”, “militantes” ou “minorias barulhentas”. Essa inversão moral busca esvaziar a própria legitimidade da luta coletiva.
c) A governança pela precariedade
A ausência de políticas públicas consistentes não é falha administrativa; é o modo de funcionamento que mantém populações inteiras numa zona cinzenta de semi-direitos, sempre negociáveis, sempre instáveis.
4. Por que os direitos ainda são uma utopia?
Não porque sejam inalcançáveis, mas porque a sua realização plena exige ruptura, e não apenas reforma. Exige repensar quem produz conhecimento, quem define o humano e quem narra a própria história.
É nesse ponto que a Revista Amefricana se torna não apenas um espaço editorial, mas um gesto político. Ela se coloca como dispositivo de soberania epistêmica, disputando o que entendemos por humanidade, por dignidade e por justiça. Ao centrar vozes negras, indígenas, amefricanas e periféricas, a revista desloca o eixo da análise: os direitos não são apenas normas jurídicas; são práticas de mundo, experiências de resistência, insurgências cotidianas.
5. A utopia necessária: o trabalho da esperança
Se os direitos humanos ainda são utopia, não é porque falhamos. É porque ainda estamos em luta. A utopia, aqui, não é horizonte inatingível; é motor ético que impede a naturalização da violência.
Lutar por direitos humanos é:
recusar a pedagogia da indiferença;
desmascarar os projetos de morte;
participar da disputa pública sobre o valor das vidas;
construir epistemologias que tornem visíveis aqueles que o Estado tenta apagar;
reencantar o mundo com a possibilidade de justiça.
Como lembra Paulo Freire, a esperança não é espera: é anúncio e denúncia. Denúncia da violência estrutural; anúncio de que viver plenamente é um direito — e não um privilégio.
6. Conclusão: o gesto de dizer “humanidade”
Celebrar o Dia Internacional dos Direitos Humanos não é repetir slogans; é encarar o espelho da nossa própria brutalidade. No Brasil, onde a democracia é constantemente testada pela lógica da morte, defender direitos humanos é um ato de insurgência moral.
Ainda que permaneçam como utopia, são justamente eles que permitem imaginar outro país — e, ao imaginá-lo, começar a construí-lo. Entre o mundo que temos e o mundo que podemos ter, há uma ponte feita de palavras, corpos e lutas. Que a Revista Amefricana seja uma dessas pontes.









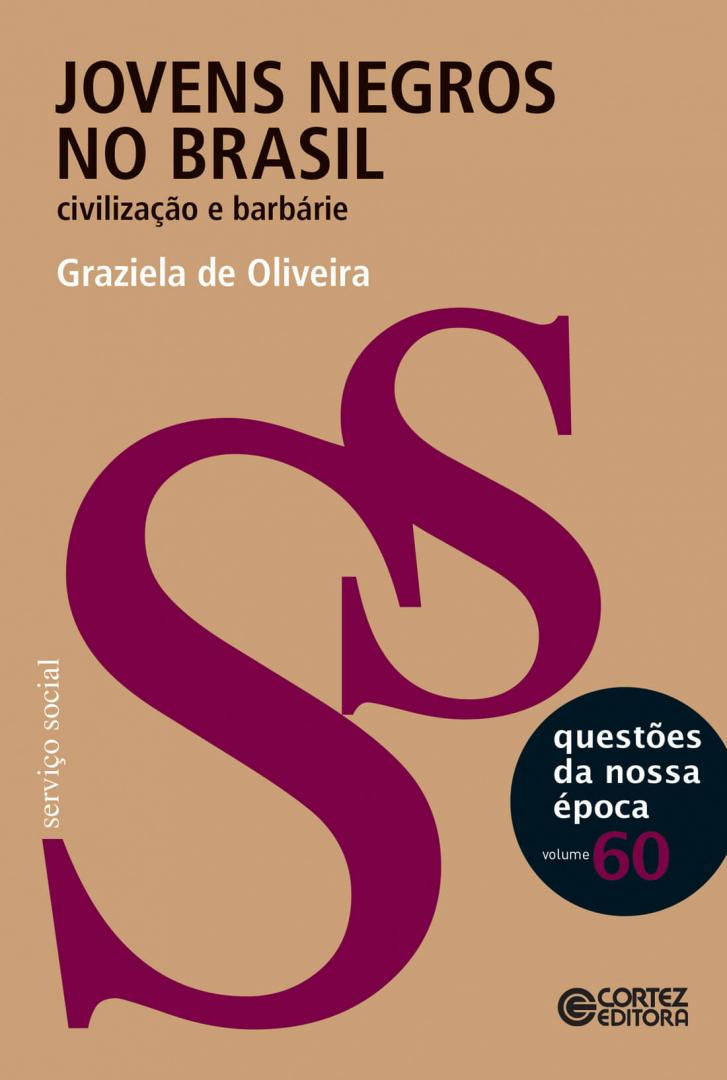










Comentários